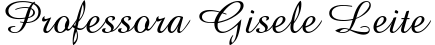O derradeiro capítulo da Parte Geral do Código Civil brasileiro de 2002 que disciplina a prova, já é antigo o debate doutrinário sobre a necessidade e pertinência de um capítulo destacado para disciplinar as provas dos fatos jurídicos na legislação codificada.
Não pretendemos fazer maiores digressões, mas é comum e apropriado no cotidiano e mesmo na prática forense a frequente necessidade de comprovação dos fatos jurídicos, o que pode ser exigido por qualquer um dos participantes de uma relação negocial, como também por terceiros.
O capítulo referente às provas é o setor que maior interação apresenta com as regras presentes do Direito Processual Civil brasileiro, não sendo fácil estabelecer com nitidez precisa a fronteira entre os dispositivos atinentes ao direito material (artigos 212 ao 332 do Código Civil de 2002) e ao direito processual civil (artigos 369 ao 484 do CPC/2015).
Evidentemente que é o Código Civil que disciplina e conceitua o meio de prova que é hábil a demonstrar a existência de determinado fato, cabendo ao CPC indicar como tal prova deverá ser apresentado em juízo (impondo-lhe forma, tempo e cautelas para sua constituição).
Conveniente recordar que o CPC/2015 cogita na prova simplificada que consiste numa novidade, ao permitir a substituição de prova pericial pela prova técnica simplificada, que deve ser pertinente quando o ponto controvertido for de menor complexidade.
E, pode consistir na inquirição feita pelo magistrado de um especialista a respeito do ponto controvertido da causa que requeira especial conhecimento científico ou técnico.
A importância da prova justifica o tratamento constitucional que lhe é devotado no artigo 5º, inciso LIV que consagra a garantia do devido processo legal e, no inciso LV que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pois afinal, é através da produção de provas que os litigantes conseguem influir diretamente na formação do convencimento do julgador, que ao decidir deve atentar para o artigo 93, inciso IX da CF/1988, vindo também comparecer sua relevância nos fundamentos das razões do julgamento.
Em tempo, ressalte-se que não se confunde a forma do ato jurídico com a sua prova, pois enquanto que a primeira é visa sob o aspecto estático, ou seja, considerando as solenidades que revestem a manifestação de vontade jurígena, aquela é por sua vez, é vista sob o aspecto dinâmico, uma vez que serve para demonstrar a existência do ato jurídico.
Entre nós, no sistema jurídico pátrio, vige o princípio da liberdade das formas[1], descrito no artigo 107 do CC/2002 que informa que apenas em excepcionais situações se exige a determinação de forma especial, chamada de solene para a prática do ato, não importando se esta exigência é feita de modo único (como através de escritura pública), ou múltiplo (como no caso do reconhecimento voluntário de filho) ou complexo (conforme o casamento).
Observe-se que o rol de meios de prova são fixados no artigo 212 do Código Civil de 2002 que não é exaustivo, sendo perfeitamente lícito o emprego de outros meios de prova não previstos (provas atípicas), como também fazer uso de novas tecnologias que representem a evolução dos meios referidos no texto legal, dentre as quais importa salientar o documento eletrônico, a assinatura e a fotografia digital.
Nesse sentido, o disposto no artigo 369 do CPC admite a possibilidade de utilização de todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados, para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.
Interessante é anotar a Súmula Vinculante 14 do STF que aduz in litteris: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência da polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
E, também, deve-se verificar a Súmula 7 do STJ[2] que aduz: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Também a Súmula 149 do STJ in litteris: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário".
Os Enunciados das Jornadas de Direito Civil temos: Enunciado 157: Art. 212. O termo "confissão" deve abarcar o conceito lato de depoimento pessoal, tendo em vista que este consiste em meio de prova de maior abrangência, plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro.
Enunciado 297: Art. 212 O documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, independentemente da tecnologia empregada.
Enunciado 298: Arts 212 e 225. Os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de "reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas", do art. 225 do Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime jurídico da prova documental.
Os requisitos de eficácia para a confissão devem ser totalmente atendidos para que a declaração de vontade obtenha a natureza jurídica de confissão, ainda assim será valorada pelo juiz de acordo com seu livre consentimento. E, nesse sentido, vem o Enunciado 257 esclarecer.
Quem confessa não pode, depois, pedir a produção de meio de prova sobre o fato confessado, liberando a parte adversária do ônus da prova dos fatos que afirmou, art. 374, II do CPC. Afinal em razão de sua irretratabilidade, não pode o confitente reconsiderar ou arrepender-se do reconhecimento fático que fez.
Mesmo assim a confissão não vincula o magistrado em face do sistema do livre convencimento motivado, que permite ao juiz examinar a confissão como qualquer outro meio de prova, dando-lhe o valor que, no caso, entender adequado, desde que exponha as suas razões para tanto.
Mesmo no âmbito do direito processual, é relevante estabelecer a distinção entre a confissão real e a confissão ficta[3]. Sendo esta, uma ficção jurídica que se reputa ocorrida, em razão da revelia (art. 344 CPC), do não comparecimento ao depoimento pessoal ou da recusa a depor em caso de a parte intimada, ter comparecido à audiência (artigo 385, primeiro parágrafo do CPC/2015).
Irrevogabilidade não se confunde com a possibilidade de anulabilidade. A confissão já outrora denominada de rainha das provas, a confissão ocorre quando alguém reconhece fato contrário a seus interesses, mas favoráveis ao de outrem, com quem o confitente tem conflito de interesses. Através da confissão, reconhece-se livremente, ou seja, sem vício de consentimento, a veracidade do que foi afirmado pela outra parte, solucionando o conflito.
Humberto Theodoro Junior esclarece que a confissão tem por objeto um fato, não uma relação jurídica, pois não se trata de declaração de vontade para a produção de determinado efeito jurídico, na medida em que os efeitos da confissão independem da vontade do declarante, por ser ato jurídico em sentido estrito e não negócio jurídico, pelo que não é possível confissão sob termo ou condição.
Desse modo, não tem eficácia a confissão[4] se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem aos fatos confessados, conforme o artigo 213 do CC/2002, devendo-se registrar ainda o seu caráter irrevogável, embora possa ser objeto de pretensão invalidante se decorreu de erro de fato ou de coação (art. 214 do CC/2002).
Costuma-se definir documento como um escrito que representa determinado fato, classificando-o como público ou particular, a depender do sujeito responsável pela sua elaboração, Carlos Roberto Gonçalves destaca que o documento não se confunde com o instrumento público ou particular, a relação é de gênero e espécie, pois que o instrumento é criado com a finalidade precípua de servir de prova (a chamada prova pré-constituída).
Nesta situação, o notário ou tabelião confirma não apenas a qualidade (congruência das pessoas), mas também, a declaração prestada (veracidade das palavras). No reconhecimento público de firma, não qualquer validação pública das palavras, apenas se confirma que a assinatura condiz com a realidade (apenas a congruência das pessoas).
Outro Enunciado atinente a temática, é o 158, in litteris: art.215: A amplitude da noção de “prova plena”, isto é, completa importa presunção relativa acerca dos elementos indicados nos incisos do primeiro parágrafo, devendo ser conjugada com o disposto no parágrafo único do artigo 210.
O artigo 216 do Código Civil de 2002 encerra a mesma regra referente ao artigo 415 do CPC/2015. Pois normalmente o instrumento deve ser exibido no original, porém, farão prova assim como os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão, sendo extraída por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os translados de autos, quando por outro escrivão consertados”.,
Lembremos que uma certidão representa a reprodução de tudo o que se encontra transcrito em determinado livro ou documento, o translado é mera cópia do que se encontra em livro ou em autos. E, assim dispõe o artigo 217 CC que in litteris: “terrão a mesma força probante os translados e as certidões extraídas por tabelião ou oficial de registro, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas”.
A noção de certidão e translado é melhor aplicável aos documentos cartorários extrajudiciais. Os documentos judiciais são, na realidade, o próprio instrumento público, passando tal diferenciação apenas para os fins doutrinários, pois na prática, o artigo 217 CC atribui a mesma força probante para estes.
O valor probatório dos documentos assinados advém de presunção, pois as declarações constantes em documentos assinados, se presumem verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 CC), não mais se condicionando à presença de duas testemunhas para que produzam sua eficácia. E, o nobre doutrinador Flávio Tartuce alerta que não existe antinomia entre o artigo 221 CC e o artigo 748, II e III CPC/2015, pelo que, se para a validade entre os signatários de certo negócio basta a assinatura destes, ainda se faz necessária assinatura de duas testemunhas a fim de que determinado contrato seja tido como título executivo extrajudicial.
Conforme o disposto no artigo 221 do Código Civil de 2002, o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem tiver livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, vide o artigo 408 CPC, mas os seus efeitos não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público, providência indispensável para que lhe sejam atribuídas publicidade e eficácia erga omnes. Desse modo, salvo em situações especiais, o registro não é essencial à existência ou validade do ato, mas indispensável à eficácia deste em relação a terceiros.
O debate sobre a validade das cópias, sejam reprográficas ou xerográficas teve seu fim com o Código Reale, pois são válidas até serem impugnadas. Com a impugnação, será necessário comprovar a veracidade das mesmas. Já quanto ao parágrafo único, deve-se exemplificar que para a propositura de uma ação de execução por título extrajudicial, no caso de crédito, não pode ser feita com a apresentação da cópia, sendo necessário o original.
Quanto aos documentos redigidos em língua estrangeira, já se reconheceu que a tradução de documento integra a uma etapa burocrática, que é custosa e morosa, que, à luz da nova ordem internacional em que se insere o Brasil não tem mais cabimento.
Por conseguinte, os documentos produzidos no país, incluindo os instrumentos negociais, devem estar em língua portuguesa, garantindo fácil aceso ao seu conteúdo por todos, além de corresponder a uma exigência decorrente de motivações atreladas à própria soberania nacional.
É lícito afirmar que os documentos estrangeiros devem ser traduzidos para o vernáculo antes mesmo de serem colacionados ao processo, afigurando-se mais prática e útil do que o comando do artigo 151 CP.
Conclui-se que via de regra a reprodução é válido, salvo impugnação. E, nem a falta de autenticação, sem nenhuma impugnação específica do conteúdo de determinado documento, não elimina a possibilidade de reconhecimento de valor probante deste. Muito relevante é a definição da data em que foi produzido determinado documento, sobretudo, os particulares, pela grande possibilidade de fraudes a interesses de terceiros que o tema encerra. O CPC disciplinou a questão em seu artigo 370, surgindo a impugnação esta poderá ser comprovada por todos os meios de direito.
A estrutura dos vícios intrínsecos tais como forma de apresentação, legalização e, etc., ou intrínsecos tais como a rasura, lançamento errôneo e, etc, existe para validar as informações contábeis. Sendo respeitados posto que sejam prova s amplas; sendo esquecidos, servem como documento particulares assinados, fazendo prova apenas contra quem os possui.
Sublinhe-se que os livros contábeis não são documentos públicos, mas apenas, particulares.
O artigo 442 do CPC/2015 passa a não mais contar com limitativo genérico que, impedia a prova exclusivamente testemunhal para todo e qualquer negócio jurídico, evitando-se a restrição à produção provatória de forma irrestrita, mas viabilizando que o legislador continue a restringir a prova a um início de prova documental ou pericial, conforme o artigo 443, inciso II do CPC vigente, e do presente parágrafo único sempre que assim entender por necessário. Para os demais casos, aplicar-se-á a viabilidade de ampla produção probatória, ressalvados, logicamente, os casos em que o fato já estiver provado por documento ou confissão da parte.
Cumpre sublinhar particularmente que o legislador pátrio diferenciou duas situações, a saber: a forma ad substantia e a forma ad probationem tantum. A primeira é da essência do ato, implica em requisito de validade para o mesmo, encontrando descrita no artigo 108 CC, enquanto que a segunda apenas limita a produção de certos tipos de provas sem implicar em nulidade no caso de desobediência, como o já reconhecido limitador estabelecido no Enunciado 149 da Súmula do STJ in litteris: “A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito para obtenção de benefício previdenciário”. Convém identificar o valor probante da prova testemunhal, pois testemunha é a pessoa que presenciou um fato jurídico e que comparece a juízo para narrar o que perceber durante a sua realização. Considera-se, tradicionalmente, a prova testemunhal menos segura do que a prova documental, posto que esteja sujeita às vicissitudes pessoais, além de variáveis ambientais existentes no momento do surgimento do fato. Por essa razão, o Código Civil somente admite a prova exclusivamente testemunhal nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que foram celebrados (art. 227 CC). Entretanto, qualquer que seja o valor do negócio, esse meio de prova é admissível, ao menos, como prova subsidiária ou complementar da prova por escrito.
No rol do artigo 228 CC/2002 há as restrições legais para testemunhar, deve-se anotar que para a prova de fatos só estas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento de pessoas a que se refere este artigo, mas não prestará o compromisso de dizer a verdade, sendo apenas ouvida como mero informante, conforme o artigo 447, quarto e quinto parágrafo CPC/2015.
Relativamente aos menores de dezesseis anos de idade, em situações civis não patrimoniais, o direito tem admitido que sejam ouvidas, quando estiverem em jogo direito e interesses seus, máxime quando colidirem com os de seus pais ou responsáveis, conforme estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, conduto, não se enquadra na hipótese de prova testemunhal.
São chamadas de instrumentárias as testemunhas que participam de negócios jurídicos para o preenchimento de requisitos exigidos por lei ( artigo 784, III CPC) enquanto que o adjetivo processuais ou judiciais classificam as testemunhas que devam comparecer perante ao Judiciário para relatar fatos de seu conhecimento. Independentemente da classificação da testemunham e que devem se pronunciar apenas e somente sobre os fatos, não lhes cabendo exprimir juízos de valor destes decorrentes.
A Lei 13.146/2015, o Estatuto da pessoa com deficiência, estabeleceu uma forte tendência repersonalizante no Brasil, viabilizando o que já era preconizado por Orlando de Carvalho, ao afirmar que a repersonalização do direito civil é puramente a existência de nenhum compromisso com qualquer forma de liberalismo econômico e com qualquer espécie de retorno ao individualismo metafísico, repondo ao indivíduo os seus direitos no topo da regulamentação do jus civile (In: Carvalho, Orlando. Para uma teoria da relação jurídica civil – teoria geral da relação jurídica. Coimbra; Centelha, 1981).
Convém sublinhar que o artigo 229, inciso II do CC/2002 foi além do disposto no artigo 338 CPC/2015, por permitir a recusa de depor para a proteção da honra de terceiros (amigo íntimo). Afora isso, inseria-se hipótese a ensejar o direito ao silencia, relativa à recusa por conta de eventual exposição a perigo de vida ou dano patrimonial imediato, enquanto que o CPC/2015 tutela a pessoa, mas não o patrimônio.
A intenção do legislador pátrio é elogiável mas esquece que o patrimônio também é um meio de proteção à dignidade humana e acaba por legar à futura e eventual fase executório o devido resguardo a um patrimônio mínimo que assegure a devida e razoável tutela à pessoa.
A Lei 13.105/2015, ou seja, o vigente CPC brasileiro veio a realinhar as disposições, acrescentando a tutela da honra como fundamento para a escura de informação, estabelecendo uma redação parecida a do artigo 229 do Código Civil. Cria-se então um limitador importante não aplicando o direito de escusa às ações de estado ou de família. (Vide o artigo 388 CPC).
O artigo 230 do Código Civil de 2002 foi igualmente revogado pela Lei 13.105/2015 (CPC) e no sentido de disciplinar a teoria das presunções, que se mantém viva e presente nos artigos 374, IV e 375 CPC, fi retirado do sistema jurídico por ser mais que advertência do que um efetivo limite de atuação do magistrado.
Afinal, o magistrado no dever de buscar a verdade para os autos e atuar na busca de soluções justas da lide, atua como fiel da balança em termos de provas, devendo afastar as desnecessárias ou meramente protelatórias e, receber a que efetivamente possam contribuir efetivamente para a devida instrução do processo.
A doutrina habitualmente costuma dividir o estudo das presunções em dois grupos, a saber: a presunção legal (juris) e a presunção simples ou comum (hominis). A primeira, por sua vez, ainda se divide em presunção absoluta que não admite prova em contrário e, ainda, em presunção relativa (juris tantum), que admite a demonstração de ser diferente ao que parece.
Já a presunção simples se baseia apenas na experiência de vida, ou seja, naquilo que ordinariamente acontece, e não é admitida nos casos em que a lei exclua a prova testemunhal (artigo 230 CC), pois nada prova se estiver desacompanhada de outros elementos subsidiários e capazes de lhe conferir algum valor probante.
Considerações sobre a prova técnica
A prova pericial é uma prova técnica produzida com base no conhecimento científico e a partir da intervenção de especialistas (peritos) designados pelo magistrado para elaboração de laudo que colabora na formação do seu convencimento.
Tanto quanto os demais meios de prova, sua produção não vincula à decisão do juiz, que é livre para julgar com base nos demais elementos que compõem o conjunto probatório do caso, vide o artigo 479 CPC/2015.
É curial ressalvar que é possível que o magistrado venha a dispensar a prova pericial quando as partes, em suas peças processuais, seja na petição inicial ou na contestação apresentarem as questões de fato através de pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes, conforme o artigo 472 CCPC/2015.
O artigo 232 CC/2002 foi redigido com a influência de farta produção jurisprudencial. Assim, se o juiz determinasse a realização de exame médico, e, este restasse impedido por conta de recusa do réu, o juiz poderia entender que a recusa já signifique um indício suficiente para que se proferisse uma decisão que lhe fosse desfavorável àquele, o que evitaria maiores digressões sobre a obrigatoriedade de comparecimento da parte para a realização do exame e suas implicações constitucionais.
Não se trata propriamente de presunção legal, mas simplesmente o reconhecimento de indício, ou seja, de prova indireta, e de mais um elemento para a formação de convencimento do julgador.
É verdade que com o passar dos anos e, da certeza quase que infalível conferida ao exame de DNA, deu-se maior simplificasse às decisões judiciais envolvendo as ações de investigação de paternidade, que basicamente passaram a se resumir ao resultado deste exame pericial.
Porém, não é o exame que confere a paternidade ou maternidade e a filiação a quem quer que seja. Tais conceitos não depende apenas dos aspectos biológicos e genéticos, pois são forjados na experiência sociocultural de cada povo.
Em nosso país, a afetividade assume relevante papel central na sua conformação e, não pode ser aferida cientificamente pelo sangue ou pela saliva. Há de se avaliar com atenção a complexidade do relacionamento dos envolvidos em todos os seus aspectos.
O exame de DNA restringe-se a informar quando realizado quem é o genitor ou genitora biológica do autor investigante, motivo pelo qual a interpretação da Súmula 301 do STJ merecia ressalvas, pois não se pode emprestar à simples recusa ao exame, o valor de presunção de confissão ficta, sem o concurso de outros indícios que sejam capazes de formar meios de prova.
Observações Importantes:
O artigo 1.072, II do CPC/2015 revogou expressamente alguns dispositivos do Código Civil (artigos 227, caput, 229. 230. 456. 1.482 e 1.758 a 1.773). Tais revogações podem ser agrupadas em categorias, a saber: 1. Disposições sobre provas (artigos 227, caput, 229 e 230); 2. Disposição sobre a denunciação da lide (art. 456); e 3. Disposições sobre a remição de bens (artigos 1.482 e 1.483); 4. As disposições sobre a interdição.
O primeiro dispositivo importante revogado foi o artigo 227 do Código Civil que era um dispositivo capaz de estabelecer a hipótese de aplicação de um antigo e superado sistema de valoração de provas, conhecido como sistema da prova legal, por foça do qual caberá a lei fixar, em abstrato, o valor de cada prova que em um processo se pode produzir.
A lei civil em comento estabelecia como regra geral não se admitiria a produção de prova exclusivamente testemunhal para demonstrar a existência de um negócio jurídico cujo valor ultrapasse a dez vezes o salário mínimo.
Porém, como é cediço, muitos dos negócios não solenes, ou seja, aqueles cuja validade não depende da observância de requisitos formais rígidos, sendo formados pelo simples consentimento das partes, em consonância com o moderno princípio da liberdade de formas.
Ora, se o negócio jurídico não-solene[7], não existe qualquer razão para exigir-se a existência de prova escrita de sua celebração. E, a consequência disso, é uma regra muito mais coerente, com a classificação dos negócios jurídicos, por força da qual, nos casos em que a lei exigir a prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanando da parte contra a qual se pretende produzir a prova (art. 444 CPC/2015).
O CPC/2015 só se cogita da necessidade de haver começo de prova escrita, que poderá ser reforçado por prova testemunhal, quando a lei expressamente exigir prova escrita da obrigação. Sendo, porém, não-solene o negócio e, não havendo regra específica a exigir a prova escrita (exemplo: para o depósito voluntário, conforme os termos do artigo 646 Código Civil 2002), será admissível a produção de prova exclusivamente testemunhal. Percebe-se que a inovação é elogiável.
Mas, cumpre registrar com destaque que apesar do caput do art. 227 CC ter sido revogado, mas não o seu parágrafo único, que aduz in litteris: Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito, o que é perfeitamente compatível com o sistema probatório estabelecido pelo Código Fux.
Igualmente foi revogado expressamente o artigo 229 CC, por força do qual ninguém poderia ser obrigado a depor sobre o fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo; a que não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, parente em grau sucessível, ou amigo íntimo; ou que o exponha, ou às pessoas referidas anteriormente, a perigo de vida, de demanda, ou de dano patrimonial imediato.
Neste caso, a revogação resulta, simplesmente, da existência do CPC/2015, do artigo 388, por força do qual, a parte não é obrigada a depor sobre fatos: 1. Criminosos ou torpes que lhe forem imputados; 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo; 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível; 4. que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso terceiro.
Assim como o artigo 448 que aduz que a testemunha não é obrigada a depor sobre os fatos que lhe acarretem dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau; a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.
As disposições contidas do Código Fux, como se percebe tornaram inútil aquele dispositivo do Código Civil brasileiro. Daí, a comprovada revogação.
Quanto ao dispositivo do artigo 230 CC que disciplina as presunções, ensina Leonardo Grego, vale apenas como uma recomendação ao juiz. Trata-se de restrição imposta para evitar a produção de provas supostamente suspeitas, mas que não pode constituir obstáculo à apuração da verdade, servindo apenas de advertência ao magistrado da sua normal precariedade.
Se existe a mera advertência ao magistrado, não há qualquer razão para a manutenção dessa disposição. Posto que o juiz saberá, juntamente com as partes, construir em contraditório a decisão, valorando as provas produzidas para definir o que está ou não efetivamente demonstrado. Comemora-se outra boa inovação no sistema jurídico brasileiro.
Na matéria probatória, portanto, as revogações de dispositivos do Código Civil brasileiro vigente por conta do CPC/2015 são elogiáveis. Melhor do que isso, só se todo o título de provas tivesse sido expressamente revogado. (In: CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo CPC e a Revogação de alguns dispositivos do Código Civil - Parte I. Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2015/08/07/o-novo-cpc-e-a-revogacao-de-alguns-dispositivos-do-codigo-civil-parte-i/ Acesso em 15.09.2017).
[1] A doutrina brasileira, de um modo geral, encara esta questão ao abordar a classificação dos contratos, fazendo-o ora ao tratar dos contratos formais, ora dos contratos consensuais. Daí surge uma primeira distinção necessária: o princípio da liberdade de forma, em regra, deveria ser associado à autonomia privada como uma expressão da liberdade negocial (liberdade de se contratar como se quiser). Por outro lado, o princípio do consensualismo seria faceta da expressão do poder normativo desta mesma liberdade: ela é suficiente para obrigar. A diferença, em um primeiro momento, pode parecer tênue, mas conduz a distintas conclusões: os contratos são consensuais em regra (basta a manifestação da vontade), mas existem exceções, aqueles em que se exige a tradição do objeto indireto (expressão do consensualismo). De outra monta, a manifestação da liberdade contratual independe de forma específica, salvo exceções legais (expressão da liberdade). Quanto a este último aspecto, aliás, LORENZETTI resume: “La libertad de forma significa que las partes pueden expresarse oralmente o por escrito, mediante carta o em documento solemne, o a través del fax, o médios electrónicos, o la declaración tácita.”. A liberdade de forma, portanto, se liga propriamente à manifestação da declaração de vontade e ao seu meio: o veículo de sua realização. Como se pode perceber, então, o princípio da liberdade de forma tem profunda ligação com dois aspectos eminentemente práticos dos negócios jurídicos: a teoria da (in)validade e ônus probatório. Enquanto aquela condiciona a produção dos efeitos do negócio ao atendimento desta ou daquela eventual formalidade exigida em lei; este trabalha com a distribuição da carga de demonstração do conteúdo contratual. [2] Súmula 7: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. O enunciado passou a ser largamente aplicado pelos ministros na análise de variadas causas, impossibilitando o conhecimento do recurso, isto é, o julgamento do mérito da questão. No entanto, os magistrados observaram que há casos em que a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados na decisão da qual se recorre não implica o reexame de fatos e provas, proibido pela súmula. São diversos os recursos em que as partes conseguiram demonstrar a desnecessidade de reanálise de fatos e provas e, com isso, superaram o óbice da Súmula 7. Em precedente recente, julgado em dezembro do ano passado, a Quarta Turma confirmou decisão individual do ministro Março Buzzi que debateu a revaloração da prova. No recurso, uma transportadora de São Paulo conseguiu o reconhecimento da impossibilidade de uma seguradora acioná-la regressivamente para o ressarcimento de prejuízos em decorrência de roubo da carga (REsp 1.036.178). [3] A renúncia ao direito em que se funda a ação difere da confissão. É um ato que só pode ser praticado de acordo com a produção processual, ou seja, pelo autor, enquanto qualquer das partes podem confessar, independentemente do polo processual que assuma. Também é ato de disposição, e por isso vincula o juiz, ou seja, se o autor renuncia ao direito, não cabe ao magistrado desconhecer o ato, pois, representando disposição de direito, a natural consequência é a homologação pelo juiz; já a confissão não é ato de disposição, mas declaração de ciência de que o fato é verídico, e, por isso, não tem efeito vinculante. Além disso, a renúncia, alcança as consequências jurídicas do fato, enquanto na confissão há a admissão apenas da veracidade do fato, cabendo ao juiz determinar as consequências que do fato resultam, podendo, aliás, julgar favoravelmente ao confitente. [4] O Dicionário, a palavra confessar significa “declarar, revelar; reconhecer a verdade, a realidade”. Por confessado ou confesso entende-se “aquele que confessou”; confessando, “aquele que vai confessar-se” e confessor aquele que ouve a confissão (FERREIRA, vide também GUIMARÃES,). Pois bem. Ao ato de assumir a responsabilidade penal de um fato delituoso, dá-se o nome de confissão. Ou, em outras palavras, consiste na admissão como verdadeiro dos fatos imputados contra o confesso. Nesse contexto, Nestor TÁVORA e Rosmar ANTONNI apresentam detalhadamente o conceito de confissão : É a admissão por parte do suposto autor da infração, de fatos que lhe são atribuídos e que lhe são desfavoráveis. O reconhecimento da infração por alguém que não é sequer indiciado não é tecnicamente confissão, e sim autoacusação. Confessar é reconhecer a autoria da imputação ou dos fatos objeto da investigação preliminar por aquele que está no polo passivo da persecução penal. (In: TÁVORA, Nestor. ANTONNI, Rosmar. Curso de Direito Processual Penal. 3. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2009.; TÁVORA, Nestor. ARAÚJO, Fábio Roque. CPP Para Concursos. Salvador: Jus Podivm, 2010.).
[5] O mundo pós-moderno ou da modernidade líquida produziu diversas alterações na sociedade, principalmente no que tange à tecnologia e ao conhecimento. Pode-se dizer, com propriedade, que essa é a era da informação, já que a acessibilidade, atualmente, abrange um contingente maior de pessoas do que em toda a história da humanidade. É possível produzir dados, colocá-los na rede e assisti-los em tempo real. De sorte que há franca facilidade de produção probatória através de telefones celulares que hoje são minicomputadores poderosos e repletos de aplicativos úteis a registrar os fatos, relatos e situações jurídicas. [6] O ônus da prova relacionado com a alegação de ausência de gozo do intervalo intrajornada, em princípio, seria do autor, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito. Todavia, o princípio da facilidade na produção da prova aliado ao que dispõe o art. 74, § 2º, da CLT, ensejou a construção jurisprudencial no sentido de que, havendo controvérsia a respeito do horário de trabalho, o empregador deve trazer aos autos os controles de frequência de seus empregados. Na ausência de provas ou invalidade dos documentos, presume-se verdadeira a alegação posta na exordial. (TST, Súmula nº 338). Recurso conhecido e provido. (Vide TRT-10 Recurso Ordinário - RO01953291391210003 DF 01953-2013-012-10-99-3(TRT-10). [7] Negócios jurídicos não solenes – São aqueles que não precisam de nenhuma formalidade para praticar o negócio jurídico. Exemplo: Uma venda de um bem móvel pode ser feito de maneira simples sem ter a necessidade de passar por algum ato solene como é feito com o bem imóvel acima citado. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 13/07/2025
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|