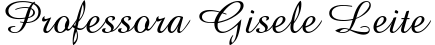Resumo: Em nosso processo penal vigente, a verdade é escondido no discurso da Verdade/verdade de alguns, buscada por meio de provas apresentadas pelas partes e apreciadas pelo juiz. Seu objetivo é garantir um soberano julgamento justo e imparcial, respeitando-se os direitos do acusado. Tal busca pela verdade no processo penal é feita através de: promessa de dizer a verdade, feita pelas testemunhas, sob pena de honra; avaliação das provas apresentadas pelas partes, seja acusação e defesa; crença do julgador que os fatos alegados pelas partes ocorreram de determinada formas. A Constituição Federal brasileira de 1988 implantou o sistema acusatório que se afastou da busca pela verdade real. O objetivo daqueles que defendem ,segundo Miranda Coutinho, a Verdade/verdade no processo penal é, aparentemente, o mesmo, qual seja, ter-se uma justiça melhor. A divergência que aparece desde logo, porém, diz respeito à concreta possibilidade de se alcançar tal objetivo; e mostra que o referido aparentemente não é em vão, pois, desde logo, percebe-se que há algo transformando-os em lobos em peles de cordeiros. Palavras-chave: Verdade. Verdade formal. Verdade Real. Direito Processual Penal. Código de Processo Penal. Constituição Federal brasileira de 1988. Código Penal.
De fato, a verdade assume funções diferentes a depender do tipo de sistema processual adotado. O sistema inquisitivo, como o próprio nome sugere, teve o seu auge revelado no processo canônico, a partir do século XII até o XIV, embora tenha sido deflagrado no direito romano. A principal característica deste sistema é a confusão entre as figuras do julgador, perseguidor e acusador. A gestão da prova é realizada pelo mesmo órgão que acusa e julga o réu, encontrando nesta característica a razão do sistema, qual seja, o princípio inquisitivo. Neste modelo, tem-se obstinadamente a busca pela verdade dos fatos, sendo a confissão considerada a rainha das provas no contexto de tarifação das provas. Não por outra razão, foi o sistema processual que instituiu a prática da tortura e outros meios insidiosos para atingir a verdade, ao passo em que o contraditório e o direito de defesa eram deslegitimados. Desse modo, a figura do juiz-inquisidor assume alta relevância e o próprio acusado se torna a principal fonte de produção de provas, ocupando o lugar de objeto no âmbito do processo penal. A posição que identifica o processo penal brasileiro pelo princípio inquisitivo aponta que o Código de Processo Penal brasileiro delegou ao juiz a iniciativa probatória no curso da instrução processual, ainda que se tenha a consagrada separação entre o órgão de acusação e de julgamento. Para além da iniciativa probatória, também reforça o argumento a existência do inquérito policial, desprovido do contraditório e da ampla defesa, sendo a iniciativa probatória exclusiva do órgão investigatório. Contudo, após o advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, cognominada de “Pacote Anticrime”, algumas posições que defendiam a existência de um sistema neoinquisitivo passaram a admitir a existência de um sistema acusatório no processo penal brasileiro. A reforma trazida pelo “Pacote Anticrime” introduziu o art. 3-A ao Código de Processo Penal e incluiu expressamente o sistema acusatório no processo penal brasileiro, vedando a iniciativa probatória do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação[1]. Em sentindo contrário: “Com efeito, como é possível estruturar um modelo de processo penal que seja acusatório e, ao mesmo tempo, permita ao juiz atuar significativamente na produção probatória, e não para fins de mero esclarecimento? O modelo acusatório, ao relegar às partes (notadamente à autora, seja o Ministério Público, seja o querelante) a iniciativa na produção probatória, atribui-lhes a responsabilidade exclusiva de desconstituir a presunção de inocência de recai sobre o acusado/réu”. (In: NETTO; FOGAÇA; GARCEL. Lei anticrime e a paradoxal afirmação do sistema acusatório. Revista da Faculdade de Direito da FMP, v. 15, n. 1, p. 8-20, 10 set. 2020). No cenário do processo penal brasileiro, o enquadramento no sistema acusatório dar-se-ia justamente pela separação formal entre os órgãos de acusação e julgamento, prevalecendo a posição de que o julgador não deve ir em busca da reconstrução dos fatos, mas apenas formar o seu convencimento a partir do conjunto probatório trazido pelas partes ao longo da instrução processual. Além disso, também são marcas indispensáveis do model brasileiro o contraditório e a ampla defesa, consagrados na Constituição da República e também no Código de Processo Penal. A controvérsia acerca do remanescente inquérito policial em caráter inquisitório é superada pela afirmação de que a fase de investigação preliminar não se confunde com a fase processual, configurada a partir dos princípios constitucionais já mencionados. Contudo, subsiste a possibilidade de o juízo indagar testemunhas, ainda que subsidiariamente, ou ainda decretar a prisão preventiva ex officio, o que afasta a caricatura do sistema processual acusatório. A constatação de que os postulados dos sistemas processuais inquisitivo e acusatório não se verificam na prática impôs à doutrina processual penal a tarefa de inovar diante da impossibilidade de admitir a insuficiência do modelo de sistemas para explicar o conteúdo e a finalidade do processo penal. “O processo misto, portanto, desde sempre foi inquisitorial[2]; e não porque tivesse uma fase inquisitorial, mas porque a estrutura acusatória da segunda fase, aquela processual, pode se reduzir a um nada se se permite que o conhecimento obtido na fase preliminar (inquisitorial), sem pejo passe para a outra, fraudando-se os fundamentos e, em particular, o devido processo e o contraditório, ou seja a CF/1988. Ou seja, na fase pré-processual busca-se aquilo que pretende ser a verdade material dos fatos, como propõe o sistema inquisitório, enquanto na fase processual propriamente dita ter-se-ia apenas a disputa das partes pelo convencimento do juízo.
A concepção de que o modelo processual brasileiro está enquadrado na sistemática mista encontra menos respaldo após as alterações contempladas no “Pacote Anticrime”. Ainda que as regras processuais não tenham sofrido alterações relevantes, bem como inexistirem quaisquer sinais de mudanças na forma pela qual juízes, promotores e advogados atuam no curso do processo penal, este anteriormente tido como de natureza mista, há uma percepção de a busca pela verdade foi afastada pela noção do livre convencimento e da paridade de armas entre a acusação e a defesa. O adversarial system, ou sistema adversarial, comumente é referenciado enquanto sistema acusatório, sendo corriqueira a adoção do primeiro apenas enquanto sinônimo deste. Contudo, tal afirmação é equivocada, na medida em que não apenas o modelo adversarial se inscreve em um modelo mais amplo do direito, diverso daquele adotado pelo modelo acusatório, mas também em razão de seus fundamentos. Com efeito, o modelo adversarial está inserido no âmbito do common law, praticado entre os países anglo-saxões e nos Estados Unidos da América, principal expoente do modelo. Noutro lado, o modelo acusatório, em que pese as suas semelhanças com o sistema adversarial em razão da coincidência de algumas premissas, inscreve-se no modelo de civil law, da tradição romano-germânica, notadamente praticado nos países da Europa continental e naqueles que tiveram a colonização jurídica majoritariamente europeia, tal como se revela nos países latino-americanos. Assim, o sistema adversarial é regido pelo princípio de separação total das partes, acusação e defesa, bem como pela completa ausência de iniciativa probatória do órgão julgador. Em tal sistema, vige a noção de que o processo é regido majoritariamente pela lógica negocial, prevalecendo a disposição das partes sobre a vontade do julgador, que funciona apenas enquanto órgão de verificação de cumprimento dos requisitos dos acordos firmados entre as partes Inexiste uma definição precisa acerca do conteúdo e finalidade do processo penal que permeia os sistemas acusatório, inquisitório atingindo o sistema misto[3], a verdade também não encontra um lugar definido. Assim, a verdade é qualificada de forma distinta e assume status ora de verdade real e ora de verdade formal, sendo substituída pela certeza como a escolha do julgador. E, os modelos são apenas referenciais teóricos ou horizonte de projeção daquilo que o processo penal deveria ser, a verdade também poderá assumir, no mesmo sistema, diversas características e funções. Independentemente do modelo adotado, a verdade está ligada às provas que são obtidas ao longo da instrução processual e a sua valoração. Desse modo, há uma relação umbilical entre prova e verdade, sendo que esta é parâmetro de valoração daquela, ambas constituindo-se como substrato essencial para o órgão julgador condenar ou absolver o réu ao final da persecução penal. Cumpre destacar que a noção de verdade real surgiu a partir do modelo inquisitório, onde a reconstrução dos fatos e a obtenção da verdade constituem a finalidade do processo criminal. Destaque-se que o adjetivo "real" implica em contraposição a verdade falsa, o que seria logicamente impossível. A verdade real surgiu originalmente em oposição a verdade formal que era extraída do sistema acusatório. Possível é entender a noção de verdade real, em sua plenitude, apenas em oposição ao conceito de verdade formal, extraída da teoria geral do processo civil. A verdade formal é um conceito da teoria geral do processo civil que se refere à possibilidade de se tomar uma decisão baseada em elementos probatórios insuficientes, mas que consideram as cargas probatórias atribuídas às partes. A verdade formal é diferente da verdade real, que é quando o juiz busca provas independentemente da vontade das partes. A verdade real é também conhecida como verdade material ou substancial. A verdade formal é caracterizada por: O juiz não ser obrigado a buscar provas; O juiz se contentar com o que é apresentado pelas partes; O juiz extrair conclusões com base no que está nos autos; O juiz ter um apego maior ao formalismo e aos requisitos processuais. Neste caso, entende-se como verdade formal a que resulta do processo, ou seja, de acordo com a forma apresentada pelas partes, obedecendo aos parâmetros da lei processual civil em vigor; e verdade material aquela a que obedeça ao julgador, reveladora dos fatos tal como ocorreram historicamente e não como querem as partes que apareçam realizados O inquisidor na busca da verdade real se confunde também com a figura do acusador e julgador e, dispõe de farta iniciativa probatória, sendo incumbido numa missão messiânica de descobrir a verdade dos fatos. Nesse sentido, a descoberta se dá por meio da reconstrução de fatos a partir das provas obtidas pelo inquisidor. O objetivo de se galgar a verdade material se mostra ser protagonista na ótica do sistema inquisitório, sendo possível afirmar a existência de um princípio da verdade material em sua formação. A finalidade da prova era a reconstrução dos fatos. Não por outra razão, a confissão se constituía como a prova mais relevante do processo penal inquisitório, pois a reconstrução dos fatos era obtida em sua fonte direta, ou seja, por meio do relato daquele que teria praticado o crime. O meio de obtenção da prova confessional poderia ser qualquer um, desde a confissão espontânea até a confissão atingida por meio da tortura, pois as provas se constituíam como meio de provar a verdade real dos fatos. Sobre o tema, Carvalho afirma que: “[...] o réu, longe de ser um sujeito (de direito) processual, é um mero objeto de investigação: o imputado detém com exclusividade a verdade histórica (material)– o inquisidor investiga, procurando buscar signos do delito, e trabalho sobre os acusados, porque, culpados ou inocentes, sabem tudo o que se requer para decisões perfeitas; tudo se resume a fazê-lo dizer. (In: CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008). A confissão, que hoje não pode ser o único fundamento de uma condenação, poderia ser utilizada como substrato da verdade real. Na ausência de uma confissão espontânea, surgia a confissão mediante tortura, revelando que os fins eram sobrepostos aos meios para a obtenção da verdade. É possível afirmar que a singularidade do modelo inquisitório se constitui no fato de que a reconstrução do passado é mais relevante que a própria forma da persecução penal. Com efeito, a descoberta da chamada verdade real pode ser levada à cabo por qualquer figura do processo, ainda que se separe a acusação e o julgador, pois o que se valoriza é a prova como meio de se atingir a verdade e os caminhos que são seguidos e aceitos para tal finalidade. Por essa razão, ainda que se considere o sistema inquisitório apenas enquanto referência histórica, pode-se afirmar que o critério de valoração das provas, chamando-as de “verdade real” é o ponto de partida para a caracterização do sistema. Lembremos que Código de Processo Penal nasceu a partir das inspirações e admirações ao modelo do fascismo italiano, a noção de verdade real, já entendida como meio de superação das garantias individuais em nome da reconstrução dos fatos, encontrou boa aceitação. Na exposição de motivos do codex de 1940, o legislador apontava que: “[...] o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a marcha da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, provas que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade “o processo penal deve atender ao descobrimento da verdade real, da verdade material, como fundamento da sentença [...] e [...] quando se fala em verdade real, não se tem a presunção de chegar à verdade verdadeira, como se costuma dizer, ou, se quiserem, à verdade na sua essência- esta é acessível apenas à Suma Potestade mas tão somente salientar que o ordenamento confere ao Juiz penal, mais que ao Juiz não penal, poderes para coletar dados que lhe possibilitem, numa análise histórico-crítica, na medida do possível, restaurar aquele acontecimento pretérito que é o crime investigado” (In: TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual do processo penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010). Ainda que pautado pela separação de funções entre o órgão julgador e de acusação e a observância ao contraditório e à ampla defesa, o processo penal brasileiro, seja em seu nascedouro, seja em seu desenvolvimento ao longo do século passado, não abandonou a noção de busca pela verdade real como paradigma de sua existência. Pelo contrário, o renascer da busca pela verdade material enquanto finalidade do processo pena surge como medida de reparação diante da inércia do magistrado no curso da persecução penal, ou ainda como ponto de diferenciação entre o juízo da ação penal daquele que apenas julga ações que discutem direitos privados, nas quais a busca da verdade real pode ser reduzida pela verdade produzida nos autos. A diferenciação entre verdade real e verdade formal foi que se deu a separação entre as possíveis “verdades” no processo civil e penal, pois se acreditava que este último, diante da iminente chance de interferir na liberdade do acusado, deveria dispor de critérios mais rigorosos na apuração da verdade e na obtenção de provas. Já o modelo civilista, colocado em uma segunda categoria, poderia se contentar com a verdade formal, ou seja, apenas com aquilo que foi levado ao conhecimento do juízo e se tornou a verdade que consta no processo. A verdade formal surge a partir da noção de que a verdade, em sua essência, seria inatingível, razão pela qual poder-se-ia apenas atingir uma verdade relativa, limitada ao conteúdo das provas existentes no processo. Desse modo, a verdade que chega ao julgador no momento de prolação da sentença seria apenas uma parte da verdade real. No mesmo sentido, a verdade formal apenas é formada quando há a presença efetiva do contraditório, razão pela qual, no processo penal, a verdade formal também é referenciada como a verdade produzida sob o crivo do contraditório. A verdade formal possui como prerrogativa a afirmação de que se constitui como uma verdade paralela à verdade material, na medida em que aquela apenas existe no interior do processo e somente é inteiramente formada quando há o efetivo contraditório, enquanto a última se constitui como a representação da totalidade dos fatos, sem distorções ou fragmentos. Ademais, o critério definidor da verdade formal é o entendimento do juiz sobre as provas produzidas pelas partes, ou seja, de caráter subjetivo, cujo julgamento é formado por meio do livre convencimento motivado, enquanto a verdade real pretende ser objetiva, na medida em que se constitui enquanto verdade independentemente do sujeito que a extrai através das provas que reconstitui o passado. Pela sua característica de se tornar verdade apenas em relação ao mundo do processo, constituindo-se em uma verdade judicial ou processual, a verdade formal não possui a pretensão de ser universalmente aceita como verdade, pois se admite que a sua validade é condicionada à produção de provas no curso da persecução penal e, não obstante, pelo efetivo contraditório entre as partes. Assim, a verdade formal é aceita apenas enquanto verdade do processo acusatório, posto que o contraditório e a separação das partes de acusação e defesa são elementos imprescindíveis para a sua existência. Desse modo, a busca pela verdade continua a ser o fio condutor entre os sistemas inquisitório e acusatório, sendo relativizada, ou ainda aceita como verdade apenas formal, no modelo de separação entre a acusação e o órgão julgador A aceitação da busca pela verdade formal como finalidade do processo penal, o seu nascimento deu-se através do processo civil, este marcado não pela busca da verdade, mas sim pelo deslinde da causa juridicamente relevante. Assim, ao julgador da demanda cível, é irrelevante o que ocorreu para além do processo, pois a finalidade própria da ação cível é a resolução do conflito deflagrado por uma pretensão resistida que se deseja realizar e necessita de uma decisão judicial para tal. Acerca da distinção entre os modelos de verdades e os processos cível e penal. Nota-se que a verdade formal, ou verdade processual, não foi construída para o processo penal, porquanto a configuração de uma verdade apenas processual revela que se desiste de buscar a reconstrução integral dos fatos, sendo aceitável como verdade apenas aquilo que foi produzido como prova pelas partes. Segundo Lopes Junior aponta que há um “imenso perigo, para o processo penal, do discurso civilista de que o processo ‘busca a verdade’ e, portanto, o juiz é alguém comprometido em ‘buscar’ a tal verdade.” Na perspectiva que enxerga a compatibilidade entre os sistemas processuais acusatório e inquisitório, não há óbices em conferir ao julgador poderes instrutórios no campo da atividade probatória sem que se incorra numa configuração processual essencialmente inquisitorial, tal como defende a parcela da doutrina que identifica o sistema processual penal brasileiro como sistema misto.
A busca pela verdade poderia ser compatível inclusive com o modelo processual acusatório, em que pese a necessidade de separação formal entre os órgãos de acusação e defesa. Badaró, a respeito do tema, afirma que: “não há incompatibilidade entre o processo penal acusatório e um juiz ativo, dotado de poderes instrutórios, que lhe permitam determinar a produção das provas que se façam necessárias para a descoberta da verdade. A essência do processo acusatório está na separação das funções de acusar, julgar e defender. A ausência de poderes instrutórios do juiz é apenas uma característica histórica do processo acusatório, mas não é um traço essencial. A orientação em torno dos sistemas processuais não seja constituída pela concepção da verdade e sua busca, é certo que a motivação para conferir poderes instrutórios ao juiz, no campo de produção de provas, se dá justamente pela necessidade, ou vontade, de se atingir a verdade real, por meio da reconstrução dos fatos, tal como se buscava por meio do modelo processual inquisitivo. Noutra perspectiva, defende-se que a existência de um órgão julgador autorizado a buscar a verdade real por meio da iniciativa probatória desconfiguraria por completo a natureza acusatória do modelo processual que pretende ser antagônico ao sistema inquisitório. Sobre o busílis, Lopes Junior afirma que “atribuir poderes instrutórios a um juiz (em qualquer fase) é um grave erro, que acarreta a destruição completa do processo penal democrático.” Não se concebe, em um modelo acusatório, a atividade investigatória judicial. Não cabe ao juiz a busca por fontes de prova na tentativa de aclarar a notícia de suposto ilícito, o questionamento sobre o plano de investigação ou avaliações sobre as estratégias investigatórias. Quando assim procede, vincula-se à energia dirigida à construção de uma possível tese acusatória a qual será chamado a decidir. Em nosso país, cuja influência da teoria unidade do processo vingou a partir da segunda metade do século XX, admite-se francamente a concessão do poder de iniciativa probatória ao juiz, ainda que se esteja falando em modelo processual acusatório. Assim, em que pese o já exposto antagonismo entre sistema inquisitório e acusatório, a iniciativa probatória do juiz em busca do esclarecimento dos fatos é aceita como parte integrante do último modelo. É possível notar que, ao passo em que se admite a estrutura acusatória do processo penal ainda que formalmente, bem como a passividade do juízo diante da necessário conflito entre as partes, também se admite que o órgão julgador, em nome da busca pela verdade, utilize de poderes instrutórios no curso do processo. Assim, a adoção de uma verdade formal como finalidade do processo penal configura o seu conteúdo, admitindo-se que órgão acusador e réu enfrentam-se num embate causado por uma pretensão resistida do acusado sobre um direito material daquele que acusa. A verdade formal é um ganho para aqueles que afirmam a impossibilidade de se atingir a verdade material, ainda que o desejo fosse a libertação total de um conceito de verdade como finalidade do processo penal. Nesse sentido, a verdade processual é um substituto paliativo aos sintomas da verdade real e seus resquícios inquisitoriais na forma de conduzir a ação penal, mas ainda não é a verdade em seu aspecto integral, pois, conforme aponta Coutinho: “[...] a verdade está no todo, mas ela não pode, pelo homem, ser apreensível, ao depois, a não ser por uma, ou algumas, das partes que o compõem. Seria, enquanto vislumbrável como figura geométrica, como um polígono, do qual só se pode receber à percepção algumas faces. Aquelas da sombra, que não aparecem, fazem parte- ou são integrantes- do todo, mas não são percebidas por que não refletem no espelho da percepção. Francesco Carnelutti representou e defendeu o salto de interpretação acerca da verdade no processo penal. Nesse sentido, o jurista italiano apontava que o escopo do processo era a investigação da verdade substancial para se chegar, apenas, a uma verdade formal. Contudo, a verdade em seu aspecto formal revelava a insuficiência teórica da finalidade do processo, senão a própria contradição da verdade apenas formal, pois se mostrava o desconhecimento daquilo que poderia ser a verdade não extraída pela via do processo. Diante da impossibilidade de se atingir a verdade, a opção fora a escolha, no sentido de se decidir sobre aquilo que se quer acreditar e, a partir da decisão, ter-se a certeza de que a decisão tomada é correta. No âmbito do processo penal, as provas permitem que o julgador estabeleça um juízo de valor sobre os elementos factuais que compõem a história narrada no processo. Por isso, a prova, em sentido amplo, é referenciada como um meio de provar, ou seja, a forma pela qual é possível chegar ao fim de se concluir que determinada afirmação é verdadeira ou falsa, independentemente da acepção que se adote para o conceito de verdade. No processo penal, quando se afirmar que restou provado a culpa do réu, há implicitamente a afirmação de que os meios de provas conduziram o julgador a um juízo que atribuiu um valor de verdade aos fatos narrados pela acusação. De outro modo, quando se afirma que o réu deve ser absolvido por ausência de provas, há indiretamente a afirmação de que os meios de prova não foram capazes de conduzir o órgão julgador ao caminho de atribuição de valor verdade ao que fora alegado na acusação e, diversamente, fora valorada como verdade a versão do réu ou, ainda, restaram dúvidas que não puderam conduzir o juízo a uma posição quanto à condenação ou absolvição, sendo certo que, diante de tal situação, a última posição deve ser adotada em decorrência do princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, aquilo que pode ser objeto de prova é limitado ao conteúdo da acusação. Não se pode admitir como prova alegações sobre fatos irrelevantes ou impertinentes ao objeto da acusação, porquanto são incapazes de conduzirem o juízo a um julgamento sobre as imputações em face do réu. São prescindíveis as provas sobre fatos notórios, que possuem uma aceitação universal quanto à veracidade de seu conteúdo. Portanto, decorre de tais limitações que os meios de prova são limitados quanto à capacidade de informar ao julgador se o conteúdo da acusação é verdadeiro ou não. Os meios de prova respeitam a condição de serem úteis ao processo, na medida em que são pertinentes apenas enquanto instrumentos de informação para a construção da verdade ao longo do processo. De outro lado, os elementos levados ao processo a título de prova que não são capazes de conduzir o órgão julgador a uma afirmação a verdade alegada pelas partes não se constituem como prova. Nesta esteira, a capacidade de conduzir o julgador a um entendimento sobre a correspondência entre a alegação trazida pela parte e os fatos a ela subsumidos revela-se como critério de aceitação da prova no processo. Neste estágio, contudo, faz-se necessário, apontar a distinção entre o que se constitui como prova e, diversamente, aquilo que se considera como meio de obtenção de prova. Sobre o sistema acusatório e o seu modelo de obtenção de provas, a busca pela verdade pode ser orientada com restrições e limites legais pré-determinados ou, de modo diverso, os limites podem orientados por critérios metafísicos tal como foi apontado quanto ao sistema inquisitorial e os modelos sui generis de obtenção de provas. Todos os modelos processuais que estão orientados a um fim específico e se utilizam da prova como meio de realizar a sua finalidade adotam critérios limitadores quanto à valoração do conteúdo e da forma de obtenção da prova. No modelo inquisitorial propriamente dito, a valoração e os limites de obtenção da prova enquadram-se numa perspectiva que interrelacionam o divino e a vontade do inquisidor em nome da busca pela verdade real. Não obstante, mesmo quando observadas as já referidas ordálias, é certo que o sistema inquisitorial também conheceu um conjunto de regras que determinavam o valor probatório dos elementos colhidos no processo inquisitivo. Já no modelo acusatório, a uma busca pela verdade racionalizada e atenta aos limite legais que orientam o ordenamento jurídico. Nesse sentido, fala-se em sistema legal de provas quando o meio de obtenção de provas deve atender a um critério racional e legalmente pré-determinado. É bastante desafiador tratar sobre a busca da verdade no processo penal brasileiro. Uma vez que a garantia do acusado, o processo procura a verdade no momento de reconstrução de um fato social tido como crime, dando maior garantia de uma justa decisão ao acusado. Mas, as vezes nos deparamos com a possibilidade ou impossibilidade da existência dessa verdade, bem como de um conhecimento verdadeiro sobre a correspondência entre a linguagem processual e a realidade dos fatos ocorridos na realidade social. Não é adequado cogitar filosoficamente de um conhecimento proposicional verdadeiro. Afinal, o processo penal também é instrumento e problema do conhecimento em filosofia, porque pretende buscar reconstruir o fato que concretamente aconteceu, para ter um conhecimento verdadeiro ou seguro sobre esse fato.
Coexistem processualistas que confirmam a existência de uma verdade formal ou de uma verdade material no contexto do processo penal brasileiro. Questiona-se sobre a possibilidade ou impossibilidade da existência dessa verdade enquanto correspondência entre a linguagem (processo) e a realidade materializada pelos fatos ocorridos no mundo da vida. A partir da teoria de Alexandre Luz, é a impossibilidade de um conhecimento proposicional verdadeiro. Nesse sentido, se a teoria apresentada estiver correta, não se poderia falar de uma verdade processual penal, formal ou material, mas apenas de um conhecimento processual penal justificado. De fato, o processo penal é instrumento de reconstrução de fato pretérito que aconteceu no mundo da vida, tipificado pelo sistema penal, para a solução da lei por meio da sentença. Trata-se de instrumento de garantia do acusado. Portanto, o processo instrui um conjunto probatório que permita, em tese, afirmar ou não, saber se o fato realmente se materializou e, se o sujeito apontado como realizador é, certamente, o autor de um fato. Em resumo, o processo procura verificar a materialidade delitiva e a autoria do delito ou contravenção. O processo penal é instrumento de garantia do acusado significa que a ele são possibilitados todos os meios de defesa permitidos no Estado Democrático de Direito, como a ampla defesa e o contraditório, e quem, além disso, que o indiciado ou acusado somente será condenado por realizado fato se houver certeza sólida sobre a materialidade delitiva e sua respectiva autoria. Cumpre alertar que em caso de dúvida, deverá ao acusado ser absolvido. Entre os penalistas e os processualistas é comum que afirmem que o processo penal busca conhecimento certo, sólido e seguro, ou seja, um autêntico conhecimento. Procura-se mais do que apenas solucionar a lide, pois pode interferir na liberdade humana, por meio de sentença condenatória, ou mesmo, tem o condão de estigmatizá-lo perante a sociedade. Conclui-se que a relevância da noção de verdadeiro no processo penal como condenar uma pessoa à restrição da liberdade sem uma certeza ou verdade quanto ao cometimento do delito? E, se não houver um verdadeiro conhecimento, parece que o suposto autor deverá ser absolvido em razão da dúvida, que encontra respaldo na máxima in dubio pro reo. A busca da verdade dividem os processualistas penais que a dividem quanto às concepções da verdade. Para alguns, o processo busca uma verdade formal, vinculando-se principalmente a uma ideia acusatória do processo penal, relacionada ao princípio dispositivo de prova. Já para outros doutrinadores, o processo penal busca a verdade real, também denominada verdade material, relacionada à noção inquisitorial do processo e ao princípio inquisitivo de produção probatória[4]. Enfim, a verdade real ou material no processo penal é a que reivindica a correspondência com o mundo dos fatos. A decisão espelhada na sentença deverá corresponder exatamente aos acontecimentos fáticos, num espelhamento com a realidade. O processo deverá dizer o que aconteceu no mundo dos fatos, parece que a noção de verdade real se vincula ao princípio inquisitivo, que permite ao juiz gerir a ´prova, produzindo provas no fim de alcançar a verdade. Inquisitivo e inquisitório são termos que se referem a um sistema processual em que o juiz assume um papel ativo na produção de provas. Inquisitivo: O juiz é o responsável por investigar, acusar e julgar; O juiz é o responsável por gerir a produção de provas; O juiz toma a iniciativa de produzir provas; O juiz atua como parte do processo[5]. Inquisitório: O sistema inquisitório é um sistema processual em que o juiz age de ofício para produzir provas; O sistema inquisitório é marcado pelo sigilo e pela confissão como a principal prova; O sistema inquisitório é marcado pela hierarquia entre as provas; O sistema inquisitório não prevê contraditório ou presunção de inocência; O sistema inquisitório foi adotado pelo Direito Canônico no século XIII, durante o período da Inquisição. Significa que a busca da verdade material impõe ao processo penal a busca da verdade substantiva dos fatos e não somente uma verdade formal (MACHADO, 2009). Segundo Mirabete (2000), a verdade real é um guia para o estabelecimento do exercício do jus puniendi somente contra aquele que praticou a infração penal e nos exatos limites da sua culpa. A investigação, contudo, não encontra limites formais e na iniciativa das partes, visto que se relaciona ao princípio inquisitivo de produção probatória, no qual o juiz pode dar seguimento à relação processual mesmo diante da inércia das partes, podendo determinar de ofício a instrução probatória, para que se possa descobrir a verdade material. Ao explicar a verdade real e afirma que o poder inquisitivo do juiz permite a produção de provas permitidas ultrapassar “[...] a descrição dos fatos como aparecem no processo, para determinar a realização ex officio de provas[6] que tendam à verificação da verdade real, do que ocorreu, efetivamente, no mundo da natureza”. Essa verdade material ou real, segundo pensadores como Aury Lopes Junior (2010, p. 85), é um mito. Isso porque, se o processo penal é um instrumento para o convencimento do juiz, o processo esbarra na impossibilidade do alcance da verdade real, em razão de diversos fatores, como a falibilidade do conhecimento humano na reconstituição dos fatos. A argumentação de Aury Lopes Junior, Oliveira (2003) apresenta pontos negativos a respeito do uso do princípio da verdade real. E, o maior mal causado tenha sido a disseminação de uma cultura inquisitiva, que terminou por atingir praticamente todos os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. Com efeito, a crença inabalável segundo a qual a verdade estava efetivamente ao alcance do Estado foi a responsável pela implantação da ideia acerca da necessidade inadiável de sua perseguição, como meta principal do processo penal. Deve-se entender que a verdade formal surgiu e contraposição à verdade material e encontrou a sua melhor expressão e quod non este in actis non esta in mundo, o que não está nos autos não está no mundo. E, diante do princípio da verdade formal, a decisão do juiz deverá se pautar pela prova constante nos autos processuais. Pois a verdade formal é aquela espelhada no processo, nas provas coligidas, que pode ou não pode ter total correspondência com os fatos que aconteceriam no mundo externo do processo. Percebe-se que o conceito de verdade formal é próprio do processo penal acusatório, onde a gestão das provas está a encargo das partes, a saber o Ministério Público e a defesa e, a sentença criminal deverá se fulcrar nessas provas coligidas. Critica-se a noção de verdade real e, afirma-se a possibilidade em cogitar em verdade processual ou formal, onde se define a certeza jurídica, representada pela tentativa de reconstrução dos fatos através dos parâmetros estabelecidos em lei. Critica-se a verdade real sob o argumento de deturpação da atividade jurisdicional. Talvez o mal maior causado pelo citado princípio da verdade real tenha sido a disseminação de uma cultura inquisitiva, que terminou por atingir praticamente todos os órgãos estatais responsáveis pela persecução penal. Com efeito, a crença inabalável segundo a qual a verdade estava efetivamente ao alcance do Estado foi a responsável pela implantação da ideia acerca da necessidade inadiável de sua perseguição, como meta principal do processo penal. O aludido princípio, batizado como da verdade real, tinha a incumbência de legitimar eventuais desvios das autoridades públicas, além de justificar a ampla iniciativa probatória reservada ao juiz em nosso processo penal. A expressão, como que portadora de poderes mágicos, autorizava uma atuação judicial supletiva e substitutiva da atuação ministerial (ou da acusação). Afirma-se que autorizava, no passado, por entendermos que, desde 1988, tal não é mais possível. A igualdade, a par conditio (paridade de armas[7]), o contraditório e a ampla defesa, bem como a imparcialidade, de convicção e de atuação, do juiz, impedem-no (OLIVEIRA, 2009). A cruel dicotomia entre a verdade real ou material e a verdade formal faz parecer que essa implica na possibilidade de o julgador proferir decisão em desconformidade com a realidade dos fatos no mundo exterior, a partir de apreciação de elementos probatórios insuficientes para o esclarecimento do fato. Ademais, faz parecer que a verdade real transcende a verdade forma, por espelhar a realidade do mundo concreto, para além da insuficiência probatória. Portanto, existe carga ideológica no que se chama de verdade real, pois são disponibilizados mais instrumentos além do conjunto probatório, para alcança-la, caracterizando o processo denominado inquisitorial, no qual o magistrado controla a gestão da prova. Segundo o pensamento de Tucci (1986), nem a verdade formal é inverdade, nem a verdade real corresponde à verdade absoluta, visto que esta é inalcançável. Moreira (1999) também nega a dicotomia entre verdade formal e material. Para ele, a verdade com relação aos fatos é una, podendo variar a disponibilidade de meios de sua investigação. A seu turno, Silva (2002) também afirma que não deve mais subsistir a divisão entre verdade formal e real, sendo ela apenas uma. Para o doutrinador, não há meia verdade ou verdade aparente, mas apenas a verdade. Nesse sentido, em suas vertentes formais e materiais, os pensadores processualistas penais parecem crer na existência de uma verdade, seja ela meramente processual ou espelho da realidade. Essa verdade, em ambas as vertentes, parece respaldar a justiça na decisão proferida pelo magistrado ao final do processo penal. O interesse pelo conhecimento, sugere Alexandre Luz (2013), é um interesse humano e, desde os primórdios, os filósofos se questionam sobre os limites, possibilidades e fontes o conhecimento. Para o pensador, determinados conceitos, como belo e conhecimento, não precisam de qualquer referência teórica para serem identificados. Segundo Luz, esse tipo de conceito não pode receber esclarecimento sem apelo às instituições pré-teóricas. O conceito de conhecimento[8] tem sido objeto dos filósofos ao longo da história e gera considerações no dia a dia, em função das expectativas humanas em relação àquilo que se sabe, em contraposição ao que se tem opinião ou dúvida (LUZ, 2006). Luz (2006) sugere que o conceito de conhecimento é mais complexo do que se costuma supor e, inicialmente, apresenta três sentidos. Em primeiro lugar, o conhecimento como habilidade, no qual o conhecer se refere a uma habilidade, algo que é desenvolvido por meio de treinamento e repetição, como na proposição: Pelé sabe jogar futebol. O conhecimento por familiaridade ou de trato, que se refere a um elemento pré-reflexivo que se manifesta por meio de uma ação, como na proposição: o bebê conhece Maria. Em terceiro lugar, o conhecimento proposicional, que se trata do conhecimento de proposições, que é o tipo de conhecimento que permite a estabilidade para análises detalhadas da Ciência e Filosofia (LUZ, 2006). Conforme a explicação de Alexandre Luz, o conhecimento proposicional envolve uma crença, além de certo grau de mérito com relação à posse da crença, que envolve a noção de justificação. Nesse sentido, uma pessoa está justificada em crer numa proposição quando a sua crença é sustentada por outras crenças. Mas, o conhecimento não se limita à crença numa proposição justificada, pois ela pode ser falsa. O conhecimento requer, ademais, a verdade, que parece ser o objetivo epistêmico. Diante disso, uma definição prévia de conhecimento proposicional pode ser a definição de Platão. Platão definiu, segundo Luz (2013) o conhecimento proposicional como a crença verdadeira justificada, que pode ser representado no seguinte esquema: (DT) S sabe que p se e somente se. (i) S crê que p. (ii) p é verdadeira. (iii) S está justificado em crer que p. Nessa definição prévia apresentada, um indivíduo qualquer (s), sabe (ou conhece) uma proposição (p), num instante (t), se e somente se (i) ele crê nesta proposição, (ii) ele possui algum tipo de mérito intelectual (justificação) em relação a esta crença e, (iii) P é verdadeira (LUZ, 2006). Luz (2013) explica que, de maneira provisória, parece ser possível extrair da noção da definição que: (a) a expressão ‘S sabe que p’ é tomada em seu sentido proposicional; (b) s é um sujeito epistêmico, isto é, capaz de ter estados mentais; (c) p é uma proposição qualquer; (d) ‘S crê que p’ indica que p está na mente de S e que o sujeito S está disposto a acreditar que p é verdadeira; (e) ‘p é verdadeira’ indica que p descreve algo que ocorre independente de S; e, (f) ‘S está justificado em crer que p’ informa que o sujeito S tem boas razões para que em p. Essa definição tripartite (DT) de Platão é a definição tradicional do conhecimento e, por um longo período, foi capaz de satisfazer o que se pretendia expressar com o conceito de conhecimento. Para Platão, não basta que uma crença fosse verdadeira para que se denominasse conhecimento. O conhecimento é o resultado de uma crença verdadeira justificada epistemicamente (LUZ, 2013). Parece que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Contudo, essa é uma definição incompleta, sugere Luz, conforme mostrado por Emund Gettier, em 1963. Segundo Luz (2006), Gettier destruiu a ideia de que o conhecimento é apenas uma crença verdadeira e justificada e trouxe consequências indiretas, como a sua negação da pretensão de que uma cadeia bem formada de razões pode levar infalivelmente ao conhecimento. Conforme o argumento apresentado por Gettier (1963), retomado por Luz (2013), as condições do definiens de (DT) podem ser satisfeitas sem que o definiendum fosse satisfeito. Significa que, por meio de contraexemplos, Gettier sustenta que um sujeito pode ter uma crença verdadeira e justificada sem que possua conhecimento. O contraexemplo de Gettier ‘(G1) Brown está em Barcelona’, conforme Luz (2013), implica em que Smith tem forte evidência para crer numa proposição que ele não imagina ser falsa: (f) ‘Jones tem um Ford’. Smith toma aleatoriamente o nome de um lugar (Barcelona) para construir a proposição p: ‘ou Jones tem um Ford ou Brown está em Barcelona’. Ele não sabe do paradeiro de Brown para aceitar p tendo por base f. Por coincidência, Brown está em Barcelona, sendo p verdadeira. N. De uma proposição justificada, o sujeito deduz uma nova proposição, que também está justificada para ele. Contudo, a proposição original é falsa, mas a deduzida, por sorte, verdadeira. O sujeito epistêmico[9], nesse sentido, não possui conhecimento. Conforme sustenta Luz (2013) a respeito dos contraexemplos de Gettier, o sujeito epistêmico S possui uma crença verdadeira e justificada, mas que não satisfaz à intuição que se deseja manifestar por meio do conceito de conhecimento, que é aquela na qual o conhecimento envolve um mérito e não um golpe de sorte, como no caso Gettier. Luz (2013) argumenta que os contraexemplos de Gettier, além de apontarem para a insuficiência da (DT), parecem enterrar a concepção de justificação que acompanhava a maior parte da epistemologia anterior, isto é, de que o conceito de conhecimento poderia estar centrado na noção de justificação, entendida como um “[...] encadeamento de razões (ancoradas preferencialmente em alguma proposição infalível) e, principalmente, que tal cadeia de razões, devidamente ancorada, seria capaz de garantir-nos o conhecimento” (LUZ, 2013). Gettier mostra, segundo a leitura de Luz, que mesmo que o ser humano esteja justificado, com as melhores evidências, “[...] estaremos sempre sujeitos a uma conjunção de fatores externos a nós e que nos afastam daquela situação que desejamos, a da verdade atingida com mérito”. Diante disso, para Luz (2006), Gettier merece os méritos por ter apontado que a busca pela evidência que garanta a verdade é em vão. A tarefa dos epistemólogos, após 1963, passou a ser, na visão de Luz (2006), a de elaborar uma nova definição de conhecimento proposicional. Para Luz, o termo justificação expressa valor – o valor da aprovação. Por sua vez, o conceito de verdade não é um conceito epistemológico. Para o pensador, não parece razoável chamar de verdadeiro aquilo que parece ser verdadeiro, visto que a decisão sobre o que parece verdade somente pode estar baseada nas evidências disponíveis naquele momento. Assim, o conceito de verdade pertence ao campo da metafísica. Nesse sentido a hipótese apresentada a impossibilidade de um conhecimento verdadeiro no campo processual penal a fim de sustentar A decisão judicial, tanto condenatória quanto absolutória. Alexandre Luz parece negar a possibilidade epistemológica de conhecimento da essência, posicionando-se contrariamente a tese essencialista e contra o conhecimento da verdade. Luz sugere que crenças podem ser justificadas, mas não se pode ter certeza da verdade (termo essencialista) de tais crenças. Para ele, deve se aceitar como crenças justificadas mesmo que não sejam certas, pois a certeza relaciona-se à verdade, conceito esse metafísico. Se a sugestão de Luz estiver correta, a distinção entre verdade e justificação ocorre em razão daquilo a que se refere cada um destes conceitos. O termo “verdade” apresenta um caráter metafísico[10]. Por sua vez, o termo justificação vincula-se a elementos da racionalidade e, por isso mesmo, é um termo epistemológico. Segundo o entendimento de Luz (2006), enquanto a verdade apresenta um caráter objetivo, a justificação depende das razões que dispomos para falar sobre determinados objetos. Assim, uma vez que o processo busca o conhecimento proposicional sobre um fato pretérito, seria adequado fala em crenças justificadas para ancorar a decisão judicial, não em verdades formais ou materiais. Para Luz (2006), dizer que a verdade é um conceito metafísico não significa dizer que ela não existe e nenhuma das crenças podem ser verdadeiras, nem significa dizer que a verdade é relativa. Significa que, entre aquilo que se crê e a verdade não há conexão necessária. Teorias científicas, por exemplo, ocupam o topo da escala de justificação, mas isso não significa que sejam verdadeiras. As crenças que o ser humano tem sobre o mundo podem ser bem justificadas, mas podem ser falsas, pois não parece ser possível um conhecimento verdadeiro sobre o mundo externo, visto que não se tem acesso direito à realidade. Nesse sentido, parece que Luz critica a ideia de conhecimento como espelho da natureza. Assim, ainda que possa existir uma essência, no pensamento de Luz, parece não ser possível ter acesso a essa essência por meio do conhecimento. Pode ser possível afirmar que, para Luz: (a) não parece ser possível um conhecimento verdadeiro sobre o mundo externo; (b) não se pode ter acesso à realidade; (c) não é parece ser possível um conhecimento verdadeiro (essencialista), pois as crenças que os humanos têm sobre o mundo podem ser bem justificadas, mas falsas. Se a conclusão extraída do pensamento de Luz estiver correta, então a hipótese apresentada parece ser bem corroborada: não é adequado filosoficamente falar de um conhecimento proposicional verdadeiro, inclusive no âmbito do direito e do processo penal. De fato, se não for possível um conhecimento verdadeiro sobre o mundo (ou fatos pretéritos), em razão da inacessibilidade à realidade ou, em outras palavras, em razão de que o conhecimento não é um espelho da realidade, então tem se que o processo penal não só não é o meio adequado a alcançar um conhecimento verdadeiro sobre os fatos pretéritos da realidade, como também não consegue alcançar tal finalidade. Parece ser possível afirmar que o processo penal, enquanto instrumento de garantia, não busca uma verdade formal ou material, mas busca um conhecimento proposicional bem justificado para ancorar a decisão judicial. Entre pensadores processualistas e penalistas, é comum a crença na verdade processual penal, isto é, que o processo penal busca um conhecimento seguro, certo e verdadeiro. Contudo, os pensadores processualistas penais dividem-se quanto às concepções de verdade. Para alguns, o processo busca uma verdade formal e, para outros, a verdade material ou real. Para ambas as vertentes, existem a crença na verdade, que serve para respaldar a justiça na decisão proferida pelo Magistrado ao final do Processo Penal. Apesar das considerações de verdade formal e material, a hipótese apresentada é que não parece adequado filosoficamente falar de um conhecimento proposicional verdadeiro, tal como teorizam os processualistas penais. Para analisar a hipótese, o artigo utilizou o pensamento epistemológico de Alexandre Meyer Luz[11]. Até o ano de 1963, era comum a ideia do conhecimento como crença verdadeira e justificada. Contudo, Gettier destruiu a ideia de que o conhecimento é apenas uma crença verdadeira e justificada e merece os méritos por ter apontado que a busca pela evidência que garanta a verdade é em vão. Após as considerações de Gettier, Luz afirma que foi necessário elaborar uma nova definição de conhecimento proposicional. A nova definição englobou o conhecimento justificado, mas não a noção de verdade, pertencente à metafísica. Diante disso, o artigo concluiu o pensamento de Luz da seguinte maneira: (a) não parece ser possível um conhecimento verdadeiro sobre o mundo externo; (b) não se pode ter acesso à realidade; (c) não é parece ser possível um conhecimento verdadeiro (essencialista), pois as crenças que os humanos têm sobre o mundo podem ser bem justificadas, mas falsas. Se a conclusão extraída do pensamento de Luz estiver correta, então a hipótese apresentada no início do artigo parece ser bem corroborada. Em suma, não parece ser adequado filosoficamente cogitar de um conhecimento proposicional verdadeiro, inclusive no âmbito do direito e do processo penal, em razão da inacessibilidade à realidade. Parece existir a impossibilidade de um conhecimento verdadeiro no campo processual penal a fim de sustentar a decisão judicial, tanto condenatória quanto absolutória. A Lei nº 12.403/2011[12] não deixa mais dúvidas: nosso Código de Processo Penal vai se alinhando às determinações constitucionais, ao menos em temas essenciais: as prisões provisórias devem ser sempre a exceção, devendo o magistrado preferir as medidas cautelares diversas daquelas (prisões). Para muitos doutrinadores o sistema penal adotado no Brasil é misto, sendo que em uma parte do código o sistema é inquisitório, por exemplo quando se trata do inquérito policial e depois disso começa o sistema acusatório onde é permitido, ente outras coisas, o duplo grau de jurisdição. Alguns doutrinadores alegam que a existência do inquérito policial na fase pré-processual já seria, por si só, indicativa de um sistema misto; outros, com mais propriedade, apontam determinados poderes atribuídos aos juízes no Código de Processo Penal brasileiro como a justificativa da conceituação antes mencionada. No que se refere à fase investigativa, convém lembrar que a definição de um sistema processual há de limitar-se ao exame do processo, isto é, da atuação do juiz no curso do processo. E porque, decididamente, inquérito policial não é processo, misto não será o sistema processual, ao menos sob tal fundamentação. A doutrina mais atual, minoritária, não entende desta forma, entre eles está o professor Aury Lopes Jr. que explicita pensamos que o processo penal brasileiro é essencialmente inquisitório, ou neo-inquisitório[13] se preferirem. O fato de haver separação entre quem acusa e quem julga não basta para considerar o sistema acusatório. Ontologicamente o processo penal brasileiro é inquisitório, em que pese permitir ao acusado a sua defesa, mas que está ligada a um sistema duplo de perseguição, juiz e Ministério Público.
Referências
BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi, 1738-1794 – Dos delitos e das penas Tradução de Paulo M. Oliveira / prefácio Evaristo de Moraes / São Paulo: EDIPRO, 1. Ed., 2013. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Quando se fala de verdade no processo penal, do que se fala? Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/limite-penal-quando-verdade-processo-penal/ Acesso em 7.2.2025. GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. GRUBBA, Leilane Serratine. A verdade no processo penal: (im)possibilidades. Revista do Direito Público, Londrina, v. 12, n. 1, p.266-286, abr. 2017. DOI: 10.5433/28578-130135-1.2017v12n1p266. ISSN: 1980-511X. LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. _______________. Direito Processual Penal. São Paulo : Saraiva Educação, 2018. LOPES JR., Aury; MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson; DA ROSA, Alexandre Morais. O que sobrou do sistema acusatório após a decisão do STF? Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-set-19/criminal-player-sobrou-sistema-acusatorio-decisao-stf/ Acesso em 7.2.2025. LUZ, Alexandre Meyer. Conhecimento e justificação: problemas de epistemologia contemporânea. Pelotas: NEPFil, 2013. LUZ, Alexandre Meyer. O que é ‘conhecimento’? Revista da Fapese, Aracajú, v. 2, p. 37-52, jul./dez. 2006. MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2009. MIRABETE, Julio Fabrini. Processo penal. 10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2000. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Breves observaciones sobre algunas tendencias contemporáneas del proceso penal. Revista de Processo, São Paulo, n. 93, jan./mar. 1999. OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. ________________. Curso de processo penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. ________________. Curso de processo penal / 22ª. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018 ROSA, Alexandre Morais da- Procedimentos e nulidades no jogo processual penal: ação, jurisdição e devido processo legal / Alexandre Morais da Rosa – Florianópolis: Empório Modara, 2018. SILVA, Nelson Finotti. Verdade real versus verdade formal no processo civil. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, n. 20, nov./dez. 2002. TUCCI, Rogério Lauria. Princípio e regras orientadoras do novo processo penal brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
[1] O Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019, alterou a legislação penal e processual penal brasileira, incluindo a regulamentação da cadeia de custódia. A cadeia de custódia é o caminho que os vestígios do crime percorrem até serem analisados pelo juiz. A sua preservação é importante para garantir a verdade real no processo penal. O Supremo Tribunal Federal, após a Constituição da República de 1988, ampliou [HC 84.078, j. em 5/2/2009], restringiu [HC 196.212, j. em 17/02/2016] e depois voltou atrás [ADCs 43 e 44] quanto à extensão do Princípio da Presunção de Inocência, com a autorização da prisão em face de decisão condenatória em segunda instância, relutou em reconhecer a vedação da prisão de ofício [sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, ainda que muita gente ainda pense que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, sem pedido, seja algo legítimo e constitucional.], reconheceu a legitimidade da produção de prova de ofício, mantendo intactos os dispositivos do CPP [artigos 156 e 209] e admitiu a condenação mesmo com pedido de absolvição formulado pelo acusador, com violação ao princípio da correlação [CPP, artigo 385]. Ao mesmo tempo, avançou ao substituir a pena nos casos de tráfico privilegiado [Lei 11.343/06, artigo 33, § 4º], declarou o Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Carcerário [ADPF 347], reconheceu o direito de acesso à defesa das provas produzidas durante às investigações [Súmula Vinculante 14] e ao regime harmonizado de cumprimento da pena [Súmula Vinculante 56]. Entre idas e vindas, embora todos os ministros declarem o princípio acusatório, o preenchimento do significado é difuso. [2] Ao contrário do sistema inquisitório, que depende da gestão da prova nas mãos do juiz, para a plena concretização do sistema acusatório é vital que o magistrado fique ausente da iniciativa das provas e também de qualquer atuação acusatória sem que seja devidamente provocado pelo acusador. [3] Com as revoluções ocorridas na Europa (iluminismo, queda da bastilha[8]) o direito penal também passou por uma revolução. Grandes pensadores clamam por um tratamento humanitário para os acusados de crimes. Iniciasse o direito penal humanitário, tendo como seu principal expoente Cesare Beccaria e sua celebre obra dos Delitos e das Penas. As revoluções no campo jurídico também trouxeram um novo sistema processual, surgindo o sistema processual misto, sendo inquisitório na fase pré-processual e acusatório na fase processual. O sistema misto é teratológico logo que os princípios fundadores de cada sistema processual são colidentes. Apenas para citar uma diferença, no sistema acusatório o juiz é imparcial, no sistema inquisitório o juiz é parcial. [4] As provas possíveis no processo penal brasileiro são: Exame de corpo de delito; Perícia; Prova documental; Prova testemunhal; Confissão; Perguntas ao ofendido; Reconhecimento de pessoas ou coisas; Acareação; Indícios; Busca e apreensão. As provas podem ser classificadas de acordo com o sujeito da prova, a fonte, a forma e a preparação. Prova pessoal ou real: A prova pessoal é obtida por meio de manifestação humana, como o interrogatório, testemunho e depoimento. A prova real é obtida a partir de elementos físicos, como a exteriorização de uma arma ou fotografia. [5] O juiz não atua como parte do processo, mas sim como um sujeito imparcial que administra o processo. O juiz é um dos principais atores do processo, juntamente com o autor e o réu. O juiz é responsável por garantir a legalidade e imparcialidade do processo, aplicando a lei e tomando decisões com base nas evidências apresentadas. As funções do juiz incluem: Garantir a legalidade e imparcialidade do processo, Administrar o processo judicial, Proteger os direitos e interesses da justiça, Tomar decisões com base em evidências e argumentos apresentados, aplicar a lei. [6] A realização de provas ex officio é um ato realizado por um juiz, de forma obrigatória, para buscar a verdade real e formar a sua convicção. A expressão "ex officio" vem do latim e significa "por lei, oficialmente, em virtude do cargo ocupado". O juiz pode determinar a realização de provas ex officio, por exemplo, para: Solicitar a acareação de testemunhas com declarações divergentes; Ordenar a produção antecipada de provas urgentes e relevantes; Determinar a realização de provas periciais; O juiz pode realizar provas ex officio mesmo sem ser solicitado ou instruído a fazê-lo. A produção de provas ex officio é feita no interesse público de efetividade da Justiça. [7] A paridade de armas é um princípio do processo penal que visa garantir que as partes envolvidas em um processo tenham as mesmas oportunidades de se manifestarem e influenciar o julgamento. O objetivo é assegurar que a decisão judicial seja justa e isenta, evitando a aplicação precipitada da justiça. A paridade de armas é um princípio do sistema acusatório, que prevê a existência de partes opostas em um processo. O princípio da paridade de armas decorre do princípio da igualdade perante a lei, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal brasileira de 1988. [8] O conceito de conhecimento em filosofia é a capacidade humana de compreender, entender e apreender as coisas. Ele também pode ser definido como a forma de o sujeito se apropriar de um objeto por meio da razão e dos sentidos. O conhecimento filosófico é um tipo de conhecimento que busca encontrar explicações para os fenômenos da realidade. Ele é obtido por meio de métodos reflexivos, críticos e dedutivos. O conhecimento filosófico se diferencia do científico, religioso e do senso comum. [9] O sujeito epistêmico é um ser que possui a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Ele é ativo e constrói o seu conhecimento através de interações com o ambiente e com os outros. O termo “epistêmico” é um adjetivo que se refere à epistemologia, ou seja, à teoria do conhecimento. Algumas características do sujeito epistêmico: É um sujeito social, que compartilha e debate hipóteses; É cognoscente, ou seja, possui a capacidade de conhecer, compreender e aprender; Está sempre em desenvolvimento; Constrói conhecimentos. Jean Piaget concebeu o sujeito epistêmico como um sujeito social que compartilha e debate hipóteses. [10] A verdade na filosofia do direito é um princípio basilar do processo judicial, que se relaciona com a justiça e o entendimento dos fatos. A verdade é um conceito que se relaciona com a realidade e com o intelecto. A verdade no direito pode ser subdividida em dois princípios: Princípio da verdade material, Princípio da verdade formal. A verdade no direito é influenciada por aspectos históricos, axiológicos e teleológicos. Alguns filósofos que abordaram o conceito de verdade são: René Descartes, Immanuel Kant, Michel Foucault. A verdade pode ser definida como: A correspondência entre o pensamento e o mundo, A adequação do intelecto às coisas, Uma conclusão baseada em evidências, Um fato inevitável, A conformidade da inteligência com o objeto. [11] Alexandre Meyer Luz é professor no Departamento de Filosofia da UFSC. Possui doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutor em Filosofia pela PUCRS. Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do PPGFilosofia da UFSC. E-mail para contato: alexmeyerluz@gmail.com . [12] A Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, traz inúmeras inovações e as mais sensíveis dizem respeito às novas medidas cautelares diversas da prisão, ao aumento de casos suscetíveis de fiança, à possibilidade do juiz conceder liberdade provisória mesmo sem pedido do autuado. As medidas cautelares podem ser aplicadas quando não existem os requisitos que autorizam a prisão preventiva, conforme prescreve o art. 321 do CPP. As prisões cautelares são medidas judiciais que podem ser aplicadas em casos de crimes dolosos com violência ou grave ameaça, terrorismo, tráfico de drogas, entre outros. As principais prisões cautelares no Brasil são: Prisão em flagrante, Prisão temporária, Prisão preventiva. As prisões cautelares são aplicadas como forma de prevenção, quando o acusado pode prejudicar o andamento do processo se for solto. [13] O sistema neoinquisitório é um modelo de processo penal brasileiro que confere aos magistrados poderes que extrapolam o que é esperado em um sistema acusatório. O sistema inquisitório é caracterizado por: A figura do juiz que se confunde com o acusador; O juiz que produz a prova e julga com base nela; A ausência de contraditório e ampla defesa; A falta de imparcialidade do juiz; O acusado ser visto como mero objeto de julgamento; O sistema inquisitório se desenvolveu na Idade Média, quando a Santa Inquisição tinha muito poder. O Código de Processo Penal brasileiro (CPP) de 1941 contém dispositivos que atribuem poderes instrutórios ao juiz. Alguns doutrinadores defendem que o CPP deveria ser reformulado para se adequar ao princípio acusatório da Constituição Federal de 1988. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 08/07/2025
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|