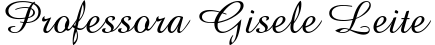Entre a História e o Direito.
Resumo: Acredita-se que um maior diálogo entre a História e o Direito contribuiria para um maior avanço dessas duas áreas do saber. Com efeito, o Direito serviria como campo (ou como fonte) de pesquisa para a História. E, já poderia ser útil para o melhor entendimento daquele. Visa refletir aspectos de como o mundo jurídico é um campo de conflitos sociais e, ao mesmo tempo, oferece possibilidades metodológicas para a pesquisa histórica. Analisamos o Direito organizado de modo a obscurecer o questionamento das normas, cristalizando-se como algo que paira sobre a vontade dos homens. Palavras-chave: Direito. História. Historicismo. Confronto histórico. História do Direito. Justiça.
As relações entre História e o Direito se reveste atualmente de sensível importância, principalmente, em face da normatividade extraída de certo contexto histórico. A historicidade do jurídico é marcada pela tradição teórico empírica assentada nas proposições revestidas de continuidade, previsibilidade, do formalismo e da linearidade. Para se obter uma renovada leitura histórica do fenômeno jurídico é necessário apurar a distinção das especificidades típicas de cada campo científico, principalmente do que seja História e do que seja Direito. A História pode ser considerada como área de investigação onde há a sucessão temporal de atos humanos dinamicamente relacionados com a natureza e a sociedade. Existe a formulação da História oficial, descritiva, personalizada do passado e que justifica a totalidade do presente. Há também a História subjacente, diferenciada e que serve para modificar ou recriar a realidade vigente. A chamada História alternativa é percebida por historiadores como Peter Burke, identificados com a "nova História", utilizando categorias vindas da filosofia da ciência (Thomas Kuhn) e da Escola dos Annales. Essa "nova História" vem a privilegiar toda a atividade humana, desde os mínimos detalhes até o trivial ou cotidiano. Explica o relativismo cultural destruidor de tradicionais hegemonias temáticas que distinguem acontecimentos importantes e que merecem ser narrados e outros que devem ser postos de lado e esquecidos. A renovação crítica na historiografia do Direito em face de suas fontes históricas, suas ideias e de suas instituições começou a surgir ao final dos anos 60 e ao longo da década de 70. Trata-se de substituir os modelos teóricos, construídos de forma abstrata e dogmatizada, por investigações históricas, engendradas na dialética da produção e das relações sociais concretas. Há de se apontar qual tipo de influência do pensamento filosófico e da teoria social que contribuiu para repensar a compreensão historicista do universo jurídico, quer o desenvolvimento crítico da historiografia do Direito.
Pode se assinalar cinco eventos epistemológicos que exerceram e ainda exercem significativa influência como marco de referência aos novos estudos históricos do Direito da América Latina. Cabe começar com o registro dos três primeiros eventos, também já mencionadas pelo jurista e historiador Antonio M. Hespanha[1]. O primeiro evento é a emergência, principalmente, na Europa Ocidental, no fim da década de 60, de uma corrente progressista de cunho neomarxista que desencadeou profundas mudanças na teoria social em geral. Deu-se a renovação dos estudos marxistas com o fim da guerra fria e a revaloração de textos clássicos e a contribuição teórica de Gramsci, mérito de Della Volpe e de Althusser e suas respectivas escolas. Propiciando o deslocamento do dogmatismo e do mecanicismo leninista para a política cultura mais flexível e aberta à autocrítica. Já Althusser partiu da desconstrução estruturalista e economicista para lançar as bases epistemológicas de uma ciência pura do marxismo. O aumento do debate sobre a teoria marxista, bem como o amplo alcance de uma revisão necessária de seus cânones, coincidiu com a explosão do movimento de 1968 cuja manifestação mais intensa foi o movimento estudantil de Maio de 1968 que, imbuído por uma estratégia anti-imperialista e anticapitalista, trouxe consigo o discurso dos novos sujeitos sociais e os novos conteúdos da revolução, materializando a crítica ideológica da ciência, das instituições e da divisão social do trabalho. Sob o ângulo da Historiografia, importante contribuição foi a reação à filosofia analítica por parte do marxismo britânico, representado por teóricos como Eric Hobsbawm, C. Hill e E. P. Thompson, no sentido de discutir e fundar uma historiografia social. Outro evento epistemológico foi a proposta de teoria crítica de inspiração neomarxista-freudiana, representada pela Escola de Frankfurt e tendo como pensadores Adorno, Horkheimer, Marcuse e Habermas. A grande contribuição da escola alemã é propor uma filosofia histórico-social que possibilite a mudança da sociedade a partir da constituição de novo tipo de homem. De um homem emancipado de sua condição de alienado, da sua reconciliação com a natureza não-repressora e com o processo histórico por ele montado. A meta de alcance utópico está na reconciliação entre o sujeito social, a natureza não-repressora e a história. Naturalmente, a teoria crítica revela-se como instrumental operante que permite a tomada de consciência dos sujeitos na história e a ruptura de sua condição de opressão, espoliação e marginalidade. Além desse aspecto relevante da teoria crítica enquanto processo adequado ao esclarecimento e à emancipação, recuperando todo um conteúdo utópico-libertador do pensamento ocidental, destaca-se, igualmente, como contundente “crítica dos grandes mitos da objetividade‟ da filosofia burguesa, nomeadamente o positivismo e o neopositivismo”. Sendo assim, para efeito de uma Filosofia da História, é, de um lado, a afirmação da “validade teórica do subjetivismo e do idealismo „humanistas‟”; de outro, sob o aspecto prático, “traz para a experiência da investigação histórica novos domínios da realidade humana e social, com o que se abrem novos problemas e se exigem novas sínteses explicativas. Já o terceiro referencial para a renovação da historiografia ocidental é o conjunto de critérios de investigação e análise posto pela Escola francesa dos Annales. Um recorte bem talhado de seus traços é delineado na apresentação de obra coletiva, publicada na França em 1980, na revista Magazine Littéraire. Gerada pelo grupo que dirigiu a revista francesa Annales que teve como figuras centrais como Lucien Febre, Marc Bloch e Fernand Braudel, a chamada Nova História sofreu grande impulso nos últimos trinta anos, ao ponto de tomar-se a expressão mais características da historiografia francesas de nossos dias. A renovação da História sob o aspecto da significação interdisciplinar proposta pela Escola dos Annales objetiva. A história não é apenas uma ciência do passado, mas como ciência do presente, na medida em que, em ligação com as ciências humanas, investiga as leis de organização e transformação das sociedades humanas. Há ainda a existência de um pensamento libertador latino-americano que se define por uma luta teórico-prática contra uma situação sociopolítica de dominação, opressão, exploração e injustiça. É o combate à plena adversidade e a busca incontida por mudanças radicais. E, algumas formulações teóricas têm desempenhado uma função essencial no desenvolvimento do pensamento libertador, florescente na América Latina, qual seja, o pensamento filosófico da libertação e a corrente da hermenêutica jurídica alternativa. A quarta “linha de força” é a existência de um pensamento libertador latino-americano que se define por uma luta teórico-prática contra uma situação sociopolítica de dominação, opressão, exploração e injustiça. É o combate à plena adversidade e a busca incontida por mudanças radicais. Algumas formulações teóricas têm desempenhado uma função essencial no desenvolvimento do “pensamento libertador” florescente na América Latina, como a teoria da dependência (vertente econômica/política: Theotonio dos Santos, Ruy M. Marini, A. Gunder Frank, Anibal Quijano, P. González Casanova), a teologia da libertação (G. Gutierrez, L. Boff, H. Assman), a pedagogia libertadora do oprimido (Paulo Freire) e a filosofia da libertação (E. Dussel, J. C. Scannone, Rodolfo Kusch, Arturo A. Roig e outros). Desde o peculiar fenômeno do populismo latino-americano, espécie de simulada alternativa às vias capitalista e socialista, passando pelos acontecimentos históricos tão significativos como a Revolução Cubana, a Guerra Fria, os efeitos do processo descolonizador dos povos do Terceiro Mundo, até a influência de figuras vinculadas diretamente com a arena política e social do porte de Camilo Torres, Fidel Castro, Salvador Allende, Frantz Fanon, Velasco Alvarado e Che Guevara”. O que se deve destacar, como tributo do “pensamento libertador” latino-americano para a nova historicidade das formas de controle legal e de normatividade social, é a afirmação de uma alteridade emancipadora, mediante um Direito livre da injustiça e da coerção, composta por sujeitos-cidadãos autênticos. Introduzem-se, assim, na pesquisa histórica; os conceitos de “alteridade”, “libertação” e “justiça social”. Por último, a presença mais recente da prática e da hermenêutica jurídica alternativa. Não se trata rigorosamente de uma escola homogênea, com uma proposta acabada, mas muito mais de uma corrente que emerge, no final dos anos 80 e início dos 90 no Brasil, por parte de alguns magistrados (juízes gaúchos da AJURIS, como Amilton B. de Carvalho) e de professores universitários (Edmundo L. Arruda Jr., Roberto A. R. de Aguiar, José Geraldo de Souza Jr. e outros). Implica a estratégia de luta dentro da legalidade instituída (no âmbito dos aparatos institucionalizados) e da legalidade a instituir (esfera da pluralidade dos grupos e movimentos sociais que têm seus direitos negados e reprimidos). Exploram-se as fissuras e deficiências da ordem jurídica formal-individualista, buscando recuperar (através de interpretação crítica e aplicação humanista dos textos legais) a dimensão transformadora do Direito, pondo-o a serviço da libertação. A cultura jurídica produzida ao longo dos séculos XVII e XVIII, na Europa Ocidental, resultou de um complexo específico de condições engendradas pela formação social burguesa, pelo desenvolvimento econômico capitalista, pela justificação de interesses liberal-individualistas e por uma estrutura estatal centralizada. Esse entendimento não só compartilha da ideia de que subsiste em cada período histórico uma prática jurídica dominante, como, sobretudo, confirma a concepção de que o Direito sempre é produto da vida organizada enquanto manifestação de relações sociais provenientes de necessidades humanas. Há que se observar, assim, como essas diferentes estruturas causais compatibilizaram-se na constituição teórica e instrumental do moderno paradigma jurídico, marcado por determinadas características (geral, abstrato, coercível e impessoal) principais institutos (propriedade privada, liberdade de contratar e autonomia da vontade, direitos subjetivos) e cosmovisões jusfilosóficas hegemônicas (jusnaturalismo e positivismo jurídico). O liberal-individualismo, enquanto “princípio fundamental” que surge das condições materiais emergentes e das novas relações sociais, tornou-se proposta ideológica adequada às necessidades de um novo mundo, bem como à legitimação das novas formas de produção da riqueza e à justificação racionalista da era que nascia. O individualismo como expressão da moralidade social burguesa enaltece o homem como centro autônomo de escolhas econômicas, políticas e racionais; faz do ser individual um “valor absoluto”. Nessa dinâmica histórica, a ordem jurídica é instrumentalizada como estatuto de uma sociedade que proclama a vontade individual, priorizando formalmente a liberdade e a igualdade de seus atores sociais. Daí a necessária distinção entre a velha e a nova ordem jurídica. A esse propósito descreve De La Torre Rangel: o Direito Medieval “reconhece a desigualdade social e trata de maneira desigual os desiguais. É um Direito que protege aos privilegiados (...)”, gerando um modo de produção injusto que tem seus efeitos minimizados pelo próprio reconhecimento da desigualdade. Assim, é um direito mais vivo e real. Já o Direito moderno liberal-individualista se assenta numa abstração que oculta as condições sociais concretas. Tem a pretensão de ser “um Direito igual, supondo a igualdade dos homens sem tomar em conta os condicionamentos, sociais concretos, produzindo uma lei abstrata, geral e impessoal”. Na verdade, tal concepção de legalidade vai constituindo-se em fins da Idade Média com o crescimento e a influência dos mercadores que, gradativamente, vão lutando contra a velha estrutura feudal, “primeiro para sobreviver e depois para converter-se em classe hegemônica”. Por sua vez, é natural a emergência de juristas identificados com os interesses dos estratos burgueses, desempenhando uma função significativa de desenterrar “as normas jurídicas romanas o as adaptando às necessidades dos mercadores, pondo especial ênfase em uma reinterpretação do Direito de Propriedade e do Direito Contratual”. Mais tarde, indo além do jusnaturalismo teológico defendido pelos doutores da Igreja, a doutrina laicizada do Direito Natural clássico, cultivada nas universidades, rompe com o silêncio da tradição jurídica romanística e põe em discussão a noção dos direitos naturais subjetivos, que alcança seu ápice com a ascensão da burguesia na eclosão da Revolução Francesa. No processo de constituição do liberalismo jurídico individualista, a escola do Direito Natural clássico consagrou, concomitantemente com a existência do Direito Privado, a criação de um Direito Público com efetividade para tornar “reais os direitos naturais do homem e garantir as liberdades da pessoa humana”. A partir do século XVIII, a doutrina passa a priorizar não mais o saber legal oficializado pelas universidades, mas o peso soberano da vontade do legislador. Com efeito, o jusracionalismo clássico contribuiu, no dizer De La Torre Rangel, para três fatores causais que modelam o moderno Direito liberal-individualista: a) “A igualdade formal de todos os homens, ao consagrar os direitos subjetivos desconhecidos para o Direito romano”; b) “A codificação do Direito em normas gerais, abstratas e impessoais, ditadas pelo Estado legislador que chegará a identificar - como no positivismo do século XIX - o Direito com a Lei, esvaziando o Direito de toda a ideia de justiça”; c) “A criação do Direito Público paralelo ao Direito Privado, como forma de garantir os direitos subjetivos e a igualdade formal, proclamados do Direito Natural”. É dentro desses marcos teóricos e operacionais que se pode caracterizar o Direito Moderno como direito estatal, centralizado, escrito, previsível (segurança e certeza jurídicas) e normativo. Sua estrutura técnico-formal é constituída por um complexo de normas de teor geral, abstrato, coercível e impessoal. O princípio da generalidade implica a regra jurídica como preceito de ordem abrangente, obrigando a um número de pessoas que estejam em igual situação jurídica. A lei é para todos e não apenas para algumas pessoas. Por outro lado, a norma de Direito é abstrata (princípio da abstratividade) porque objetiva alcançar maior número possível de ações e acontecimentos. Por último, o princípio da impessoalidade refere-se à situação de “neutralidade” diante da particularidade individual, pois a aplicação da norma tem a pretensão de estender-se a uma quantidade indefinida de pessoas, de modo aleatório e não particularizado. Certamente que tais princípios de abstração, generalidade e impessoalidade têm no modelo liberal individualista “um significado ideológico, o de ocultar a desigualdade real dos agentes econômicos, para desse modo se conseguir a aparência de uma igualdade formal, a igualdade perante a lei”. Tal ordenação privativista equipara, com uma mesma medida, as desigualdades e as diferenças, situa os indivíduos num mesmo patamar, sem questionar as distinções que fazem da organização social uma pirâmide. Importa salientar agora alguns dos principais institutos do Direito liberal individualista que se desenvolve no contexto da cultura social burguesa e da produção capitalista da riqueza. O primeiro grande instituto da juridicidade moderna é o direito de propriedade, simbolizando uma forma de poder qualificado como absoluto, exclusivo e perpétuo. Enquanto na estrutura econômica feudal a propriedade fundiária assume um caráter fragmentário (instrumento de servilismo), porquanto a mesma porção de terra divide se entre vários proprietários, subordinados uns aos outros (contraprestação), na ordem socioeconômico capitalista o regime adquire um aspecto unitário e exclusivo, principalmente nos grandes textos burgueses-individualistas, como o Código Civil Francês. Ao romper com o sistema de exploração e privilégios feudais e ao dar destaque à propriedade privada, expressão do domínio absoluto e inviolável, a legislação napoleônica traduziu os interesses individualistas e os avanços revolucionários dos segmentos sociais que passaram a exercer, hegemonia, livre, agora, de encargos que oneravam a utilização do solo. O contrato é outro símbolo máximo do poder da vontade individual numa estrutura socioeconômica capitalista. O exacerbado individualismo da livre contratação e da autonomia da vontade funciona através do chamado negócio jurídico, um “instrumento de autorregulamentação dos interesses dos particulares”, que não deixa de ocultar a desigualdade real. A construção jurídica da teoria individualista expressa as exigências de um novo modo de produção, equilibrando interesses e mediando as relações socioeconômicas. Esse pacto montado conforme a declaração de vontade das partes intervenientes é concebido para homens abstratos, livres e que estejam na condição de igualdade formal, realidade específica dos proprietários burgueses. Sustenta Ripert que o “contrato é superior à lei como fonte jurídica vinculante, porque é aceito pelas partes, e não imposto, como a segunda”. Certamente o individualismo jurídico, que teve sua materialização plena no Código de Napoleão, consagrou o contrato como instrumento insubstituível das relações humanas, proclamando, entre os sujeitos iguais e autônomos, a soberania da liberdade de contratar. Os excessos do liberalismo contratualista não deixam de ser imperativos das novas conveniências políticas e das novas necessidades materiais da vida social burguesa. Não sem razão, assinala Orlando Gomes que a apregoada liberdade contratual, enquanto pilar jurídico do sistema capitalista, tem sido uma “fonte das mais clamorosas injustiças. Em suas malhas se esconde a opressão real com que, veladamente, a classe dominante abroquela seus interesses materiais. Realmente, a liberdade de contratar é liberdade para o que possui esse poder; para aquele contra quem se insurge é, ao contrário, impotência. Não tem liberdade, não pode tê-la, quem possui como bem único a sua força-trabalho. Nesse fundamento do Direito Civil burguês manifesta-se, também, e sem subterfúgios, o conteúdo de classe que o domina. O conceito de sujeito de direito individual materializa uma abstração formalista e ideológica de um “ente moral”, livre e igual, no bojo de vontades autônomas, reguladas pelas leis do mercado e afetadas pelas condições de inserção no processo do capital e do trabalho. A questão do sujeito abstrato que dispõe de “personalidade jurídica” mediatiza a condição dos agentes que exercem o controle e a manipulação dos meios de produção e distribuição na sociedade, incidindo não apenas na singularidade de pessoas e indivíduos, mas também em grupos ou instituições, cujos interesses coletivos a norma se propõe tutelar. Como se sabe, foi a partir do século XVIII que a doutrina clássica do Direito Natural reconheceu e fortaleceu a condição dos direitos subjetivos, encarados como “a possibilidade de fazer ou pretender fazer algo, de forma garantida, nos limites atributivos da regra do Direito”. Reconhece Georges Sarotte que os direitos subjetivos implicam aquelas faculdades físicas e morais atribuídas às pessoas “que lhes permite agir em defesa dos seus interesses materiais e morais”. De qualquer modo, pode-se compreender direito subjetivo como uma noção metafísica, uma convenção valorativa criada pela doutrina jurídica burguesa para expressar vontade livre e autônoma que reivindica e que requer direitos negados. Em suma, os direitos subjetivos estão diretamente vinculados às formulações da “autonomia da vontade” e ao “interesse juridicamente protegido”. É nessa perspectiva que é preciso situar, como faz Michel Miaille, que a noção de direito subjetivo é inseparável da “concepção de sujeito de direito revelado claramente pela revolução política de 1789. As reivindicações políticas trouxeram consigo a utilização do termo direito, embora a palavra desejo ou possibilidade tivesse sido mais justa. Ter-se-ia transformado em direitos o que não eram mais do que casos de proteção concedida pela lei a certos interesses. Determinados “princípios-fins” do Direito Moderno, como a segurança e a certeza jurídicas. Para alguns, a segurança é uma necessidade fundamental da vida moderna organizada, tendo como fim imediato a realização da justiça. A doutrina tradicional alude que se trata da garantia dada a um indivíduo, a seus bens e a seus direitos, de que sua situação não será alterada senão por procedimentos regulares previstos na legislação. Adverte P. Nader para o fato de que segurança e certeza jurídicos não se confundem, pois, a primeira é “de caráter objetivo e se manifesta concretamente através de um Direito definido que reúne algumas qualidades; a certeza jurídica expressa o estado de conhecimento da ordem jurídica pelas pessoas”. Contrapondo-se às posições formalistas que encaram tais princípios como verdadeiros fins do Direito e que jamais obstaculizam o progresso do Direito, juristas como Elías Díaz argumentam que a mera certeza normativa não é suficiente para demonstrar as exigências contidas no valor segurança. A segurança não pode identificar-se exclusivamente com a ideia de uma ordem jurídica existente e com o consequente saber público do que está proibido e permitido. Na verdade, para Elías Díaz, o Direito não se esgota na sua função de proporcionar segurança, como sinônimo de ordem, pois isto seria insuficiente, oferecendo uma ideia superficial de seu conceito. É necessário, além de um sistema de seguridade-legalidade, um sistema de seguridade-legitimidade, ou seja, segurança não como fato, mas como prática que implique valores considerados imprescindíveis como “liberdade, paz, igualdade e justiça”. Assim, a ideia de “ordem normativa” e “segurança-fim” deve estar subordinada às exigências humanas de legitimidade e não a uma idealização tecno-formal sem limites, o que se tem revelado numa cultura individual-positivista, natural impedimento da transformação e do avanço do Direito. A doutrina clássica do Direito Natural individualista, “produto do liberal contratualismo e do racionalismo do século XVIII, refletiu as condições sociais e econômicas da burguesia capitalista ascendente. A função ideológica do jusnaturalismo enquanto proposição defensora de um ideal eterno e universal nada mais fez do que esconder seu real: objetivo, ou seja, possibilitar a transposição para outro tipo de relação política, social e econômica, sem revelar os verdadeiros atores beneficiados. Os princípios enunciados por esse jusnaturalismo mostraram-se extremamente falsos, ao clamarem por uma retórica formalista da igualdade, da liberdade e da fraternidade de todos os cidadãos. Por sua vez, o processo desencadeado pela Revolução Industrial (século XIX) e suas consequências na modernidade tecno-científica, bem como: os vastos desenvolvimentos de codificação e consolidação sociopolítica da burguesia acabaram propiciando a expressão máxima do racionalismo formal moderno, ou seja, o positivismo”. A concepção positivista diferencia-se da doutrina do Direito Natural, “na medida em que rejeita toda e qualquer dimensão a priori. Descarta, assim, princípios e juízos valorativos em função de uma suposta neutralidade axiomática, de um rigoroso experimentalismo e, ao mesmo tempo, de um tecnicismo formalista. O Direito é explicado pela sua própria materialidade coercitiva e concreta. Toda a sua validade e imputação fundamentam se na própria existência de uma organização normativa e hierarquizada”. A mundialidade do positivismo jurídico, “que se manifesta através de um rigoroso formalismo normativista com pretensões de „ciência‟, torna-se o autêntico produto de uma sociedade burguesa solidamente edificada no progresso industrial, técnico e científico. Esse formalismo legal esconde as origens sociais e econômicas da estrutura capitalista de poder, harmonizando as relações entre capital e trabalho, e eternizando, através das regras de controle, “a cultura liberal-individualista dominante”. Em síntese, uma vez demonstrado teoricamente o cenário histórico do moderno Direito europeu, englobando a constituição de seus pressupostos lógico-formais e epistemológicos (características, instituições e ideias), há de se ver, agora, a transposição e a adaptação desse modelo jurídico liberal-individualista à historicidade periférica de antigas colônias sul-americanas, como o Brasil.
Referências
WOLKER, Antonio Carlos. História do Direito no Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
[1] António Manuel Botelho Hespanha (Coimbra, 1945 – Lisboa, 1 de julho de 2019) foi um historiador e jurista português. Licenciado e pós-graduado em Direito (Ciências Histórico Jurídicas) e doutorado e agregado em História Institucional e Política, docente e investigador. Sendo um dos historiadores mais citados internacionalmente, foi considerado, juntamente com o espanhol Bartolomé Clavero, um dos grandes renovadores da história institucional e política dos países ibéricos e suas extensões coloniais. "A forte influência de suas ideias sobre as gerações mais novas de historiadores e de juristas se vê fácil e reiteradamente na base da argumentação de grande quantidade de estudos desenvolvidos em Portugal e no Brasil, principalmente, mas, também, em vários outros países europeus e nos Estados Unidos." Para além de numerosa colaboração dispersa em jornais e revistas especializadas, portuguesas e estrangeiras, e de várias traduções e adaptações de obras de referência no campo da História do Direito possui uma extensa bibliografia de obras publicadas sobre essa temática. Faleceu a 1 de julho de 2019, com 74 anos. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 27/06/2025
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|