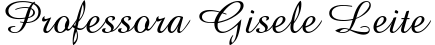Direito é guerraDireito é guerra.
Resumo: O poder simbólico das metáforas conceptuais nas relações jurídicas e nos discursos jurídicos identifica os jogos de poder que tramitam no campo jurídico e, mostram que as relações jurídicas são compostas de discurso do poder e de segregação daqueles que não fazem parte do campo jurídico, refletidas através de metáforas existentes no contexto. Direito é guerra caracteriza a forma de violência simbólica pois os leigos não são participantes e nem poderia ser devido ao fato de esse meio ser tão estigmatizado e cada vez mais distante do todo social.. Palavras-chave: Discurso Jurídico. Direito. Guerra. Semântica. Sociologia Jurídica. Poder Simbólico. Metáforas.
"Direito é guerra" é uma metáfora que pode significar "direito é litígio", "direito é luta", "direito é ataque e defesa". Hugo Grotius é um dos que usou a metáfora "Direito é guerra" para se referir ao direito comum a todos os povos, que pode ser usado tanto na guerra como para a guerra. A metáfora "Direito é guerra" também foi objeto de análise no artigo "Direito é Guerra”: uma análise da metáfora conceptual no discurso jurídico do Supremo Tribunal Federal", publicado em 2019. Segundo Bourdieu (1989), na obra O poder simbólico, o campo jurídico é onde existe uma concorrência entre profissionais do direito para “ter o direito de dizer o direito”. De acordo com a hierarquização institucional entre técnicos e profissionais, cada um procura realizar seu trabalho sempre voltado para a detenção do saber jurídico. Nesse caso, como sustenta o aludido autor, quem detém mais conhecimento, concentra mais poder. Essas relações de poder são impregnadas de um discurso próprio que se constitui de uma hermenêutica cujo foco é desconstrução da linguagem vulgar e sua reconstrução monopolizante, uma vez que só os operadores jurídicos podem opinar e decidir sobre o Direito (BOURDIEU, 1989). Tal fato acarreta, cada vez mais, o distanciamento dos “não sabedores” do direito, ditos profanos por Bourdieu, das instituições jurídicas. Portanto, segundo Bourdieu (1989), toda essa rede de relações existente no campo jurídico estabelece uma violência simbólica, já que os profanos não participam dessas relações e nem poderiam participar, devido à rigidez desse meio. Aqui reside a necessidade de o sociólogo jurista interferir, de maneira positiva, nessas relações jurídicas. Tem-se, portanto, um poder invisível, segundo o qual, quem sofre tal tipo de violência simbólica não se percebe como vítima e aceita a dominação. Na área do Direito, encontra-se tal cenário facilmente, pois os indivíduos leigos recebem o significado e atribuições de tal área sem qualquer participação ativa no campo jurídico (BOURDIEU, 1989). Ao elaborar o conceito de poder simbólico como sendo aquele que se dá através das diferentes formas de comunicação e conhecimento e no qual existe o dominado em uma relação de luta sem violência física, Pierre Bourdieu (1989) trouxe, para a Sociologia Jurídica, a oportunidade de análise dos procedimentos jurídicos, de forma a questioná-los de maneira crítica. Neste setor, serão os operadores do direito que determinarão quem tem direito. Porém, sabe-se das distâncias sociais existentes entre pobres e ricos, por exemplo, e que as regras jurídicas, da forma como são postas, não atingem de forma igual a todos. Isso significa que a imposição da visão e compreensão de mundo por um grupo dominante determinará a prática do poder simbólico, sendo sua força determinada pela ocultação, cada vez maior, de quando tal arbitrariedade se originou e provocou a alienação social diante da dominação. Logo, o Direito é, por excelência, a forma do poder simbólico de nomeação, que não só cria as coisas nomeadas dentro de suas instituições, como também dita seus meios de funcionamento, sem participação alguma do todo social, que fica à parte desses trâmites, sendo obrigado a aceitar tais procedimentos (BOURDIEU, 1989). Portanto, o poder simbólico dentro do campo jurídico confronta pontos de vista singulares, ao mesmo tempo cognitivos e avaliativos, situação que é resolvida pelo veredito solenemente enunciado de uma "autoridade" socialmente mandatada, o juiz. Sendo assim, a força do Direito decorre de seu estabelecimento e reconhecimento social como ciência rígida, uma vez que se trata de um sistema fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser compreendido segundo a sua dinâmica interna, através dos profissionais dessa área. Desse modo, a área jurídica torna-se um universo social relativamente independente das pressões externas, onde a autoridade jurídica, dentro dela reproduzida, reflete a violência simbólica (SANTOS, 1988). Trata-se de um dos pressupostos teóricos de Louis Althusser (1980), Michel Pêcheaux (1990), Lakoff e Johnson (1980) e Habermas (1989) a respeito da metáfora conceitual presente no discurso jurídico contemporâneo. O Direito no atual estágio civilizatório merece a atenção dos pesquisadores, especialmente, da área sociolinguística, presente nos discursos jurídicos, onde as metáforas que permeiam as construções e ficções do direito e os reflexos desse aparelho repressor de ideologias. Direito é guerra é metáfora presente na jurisprudência do STF, em decisões constitucionais, cíveis e administrativas, dotada de semântica capaz de expressar seu significado. Lembremos do papel do direito no Estado Democrático de Direito capitalista, a Teoria do Agir Comunicativo e ainda a Teoria Discursiva do Direito que desvelam a relevância das incursões linguísticas no Direito. Louis Althusser ao se referir ao Direito, deixa a ver que está se referindo a um conjunto não apenas normativo, mas também institucional, composto pela Polícia, pelos Tribunais e as Prisões, bem como tudo o que cerca, tal como os elementos da própria atividade normativa e jurisdicional do Estado. Destaca o doutrinador que o direito é o único elemento do Estado que exerce dupla finalidade, pois é aparelho repressivo do Estado (ARES) e aparelho ideológico do Estado (AIE). Assim, o Direito não apenas serve de organismo repressor que trata de vigiar e punir conforme enunciou Foucault (1987), defendendo o stablishment, a lei e a ordem, a serviço do capital, como igualmente administra em seus mecanismos a ideologia do Estado, por meio dos discursos dos mais diversos atores e operadores do Direito. Nesse contexto exsurge a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas (1989) sendo uma resposta para ressignificar o Direito e suas estruturas repressoras, reprodutoras da inegável interconexão entre Direito e Linguagem. Afinal, não existe um sem o outro e sem comunicação. Para Habermas mais que representações ou suposições, os atos de fala produzem e renovam as relações interpessoais, tanto no contexto de interações sociais, quanto na esfera das subjetividades. E, assim, na Teoria Discursiva do Direito se destaca dois pontos importantes do Direito Continental Europeu, de família romana e ao qual está ligado o direito brasileiro. Destaca Habermas o caráter subserviente do Direito ao Estado e seu distanciamento dos cidadãos, denotando seu divórcio dos ideais de democracia. In litteris: "Como meio organizacional de uma dominação política, referida aos imperativos funcionais de uma sociedade econômica diferenciada, o direito moderno continua sendo um meio extremamente ambíguo da integração social. Com muita frequência o direito confere a aparência de legitimidade ao poder ilegítimo. À primeira vista, ele não denota se as realizações de integração jurídica estão apoiadas no assentimento dos cidadãos associados, ou se resultam de mera autoprogramação do Estado e do poder estrutural da sociedade; tampouco revela se elas, apoiadas neste substrato material, produzem por si mesmas a necessária lealdade das massas." Cumpre relatar sobre as origens e evolução da língua do Direito, quando Pechêux (1990) estabelece a gênese da língua do Estado na Idade Média e que servia como uma barreira a separar a massa daqueles que eram os únicos suscetíveis de compreender o que se tinha a dizer e, faz referência à obra de Régis Debray , "O Escriba: a gênese do político", onde esclarece que o Estado e a Igreja, na Idade Média, ressuscitam e estabelecem o latim como a língua das "comunicações internacionais". Não é à toa que as bases do Direito são romanas, assim como o latim é idioma mais referido nas ficções e construções do Direito, tais como habeas corpus, habeas data, mandamus, inaudita altera parte, nemo potest, venire contra factum proprium, sem cogitar nas expressões máximas e todos os brocardos latinos, tais como data maxima venia, a quo, ad quem, de cujus, eventum damni e, etc. De fato, a língua do direito se traduz em ser enunciados e códigos herméticos, um tanto inacessíveis aos que não estejam diretamente envolvidos na estrutura jurídica, se tratando de uma língua artificial, criada e desenvolvida e reproduzida com o único sentido de afastar a compreensão dos que não sejam iniciados aos mecanismos do Direito. Tal tipo de língua é conhecida como "língua de madeira" (Volkoff, 1999). E, ainda segundo Gadet e Pechêux (2004), o Direito além de ser uma dessas línguas, é a maneira política de negar a política, em se tratando de uma linguagem de classe a que apenas s operadores do Direito tem acesso. Volkoff (1999) assinala a forma como as “línguas de madeira” usam as figuras de linguagem para criar e reproduzir o aparato ideológico do Estado: “A antiga língua de madeira se utilizava de imagens linguísticas e figuras de retórica para fazer propaganda ideológica, como a alegoria, o eufemismo, a prosopopeia, a metonímia, a metalepse. Utilizava-se do maniqueísmo simplista para exaltar suas próprias virtudes e demonizar o inimigo”. Relaciona-se a “língua de madeira” com a assertiva do chefe da propaganda nazista do III Reich, Paul Joseph Goebbels, para o qual “Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um determinado efeito”. A proposta de Habermas (2003), esta sugere romper com os atuais paradigmas do Direito e centrarmo-nos em um novo paradigma no qual o Direito passaria a ser um poder democrático e participativo, servindo como medium para o debate democrático e a exposição racional de argumentos. Habermas (2003) ressalta a forma e funcionamento desse novo paradigma jurídico: "O paradigma jurídico procedimental procura proteger, sobretudo, as condições do procedimento democrático. Elas adquirem um estatuto que permite analisar, sob outra luz, os diferentes tipos de conflito. Os lugares antes ocupados pelo participante privado do mercado e pelo cliente das burocracias do Estado de bem-estar social são assumidos por cidadãos que participam de discursos públicos, articulando e fazendo valer interesses feridos, e colaboram na formação de critérios para o tratamento igualitário de casos iguais e para o tratamento diferenciado de casos diferentes. [...] O fardo dessa legitimação suplementar poderia ser assumido pela obrigação de apresentar justificações perante um fórum jurídico crítico. Isso seria possível através da instauração de uma esfera pública jurídica capaz de superar a atual cultura de especialistas e suficientemente sensível para transformar as decisões problemáticas em foco de controvérsias públicas". Constata-se que estamos distantes da utopia de Habermas, sendo inexequível no atual cenário internacional e no atual estágio da evolução humana, cada vez mais propensos à autodestruição. O rompimento do atual paradigma do Direito, não democrático, fleumático e subserviente ao Estado e ao Capital, demanda também expropriar o Direito de seu linguajar de madeira, expondo-lhe as entranhas e formas como são urdidos em seus discursos e estabelecendo as formas como sua belicosa ideologia é tecida e reproduzida nos textos tanto escritos como orais que permeiam a prática dos tribunais. Dissecar o discurso jurídico, seja pela análise crítica do discurso, seja através do estudo das metáforas que permeiam o cognitivo e o imaginário das operadoras do Direito, como forma de contribuir para essa quebra de paradigma proposta por Habermas. Segundo George Lakoff e Mark Johnson (1980), a metáfora não se traduz como mero estilo ou adorno do discurso, o que é corroborado por Verezza (2010), que assim traduz sua compreensão da metáfora: "[…] ela não é mais apenas um adorno supérfluo, mas um importante recurso cognitivo usado, não só para se “referir” a algo por meio de outro termo mais indireto, mas, de fato, construir esse algo cognitivamente, a partir da interação com um outro domínio da experiência". Com efeito, muitos conceitos, muitas ficções e institutos são construídos a partir de sentido ou de um lugar metafórico e no sentido inverso, muito do mundo que nos cerca, nos é dado compreender através de metáforas. É diante dessa importância fundamental da metáfora para nosso devir cognitivo e para a construção da realidade em nosso entorno, que exsurge a Teoria da Metáfora Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (1980). Como bem assevera Zoltán Kövecses (2011), a linguística de corpus deveria prestar uma atenção maior ao estudo da metáfora conceptual: Acredito que os estudos de corpus de conceitos-alvo específicos devam prestar mais atenção à análise dessas metáforas conceptuais que podem ser consideradas “centrais” no que diz respeito aos conceitos-alvo. Essas são as metáforas que mais contribuem para a estrutura e o conteúdo dos conceitos abstratos. Todavia, como assevera Tony Berber Sardinha (2007), esse é um campo desafiador para a “Linguística de Corpus”: “ A teoria da metáfora conceptual coloca desafios para a Linguística de Corpus, principalmente porque nessa visão, metáfora é uma representação mental. Ela é cognitiva (existe na mente e atua no pensamento). […] Como a Linguística de Corpus se ocupa de dados realizados, de produção, como pode ela dar conta de encontrar as metáforas conceptuais, que residem na mente?” De acordo com Berber Sardinha (2007) a resposta se encontra nas expressões metafóricas licenciadas pela metáfora conceptual e pelos padrões de uso da língua que nos permitem deduzir tanto as expressões metafóricas quanto as metáforas conceptuais. Sinteticamente, uma metáfora conceptual faria parte de um “inconsciente cognitivo coletivo” pairando sobre e antes do discurso ser urdido, de forma que as expressões metafóricas são de alguma forma, correlacionadas e subordinadas a esta. As expressões como “a presente lide, na verdade, trata de assunto diverso”, ao usar o termo , em vez de “ação” ou “processo”, remetem a uma metáfora conceptual de que “DIREITO É GUERRA”, dado que a carga semântica de se traduz em luta, peleja, batalha, combate. Temos dois domínios subjacentes à metáfora conceptual, o domínio origem, do qual brotam as inferências e o domínio destino aos quais as inferências se aplicam, como esclarece Kövecses (2010): "Os dois domínios que participam da metáfora conceitual têm nomes especiais. O domínio conceitual do qual extraímos expressões metafóricas para entender outro domínio conceitual é chamado de domínio de origem, enquanto o domínio conceitual entendido dessa forma é o domínio de destino". Dada à historicidade da prática social aplicada do direito, cujas origens remontam as civilizações guerreiras da Suméria e tem sua base conceptual no Direito Romano, o mais beligerante dos impérios da antiguidade, não é surpresa que esse fenômeno social tenha a faculdade de ser conceptualizado a partir de termos e vocábulos militares, que se expressam metaforicamente como, por exemplo: Vamos com as do direito penal; Estamos contra o Estado; Nossa de está montada; Tais exemplos, corroboram a conceptualização do direito como guerra, na qual os sujeitos do processo são inimigos em combate e as armas são os argumentos de uma e doutra banda, manejados pelos soldados treinados para isso, os advogados e promotores, tendo como teatro de operações os campos de batalha de nossos tribunais. Veremos que “DIREITO É GUERRA” é uma metáfora superordenada com o mapeamento “DIREITO É LITÍGIO”, “DIREITO É LUTA”, “DIREITO É ATAQUE E DEFESA”. Não existe um corpus jurídico ao qual se possa recorrer e aplicar as formas tradicionais de análise, desenvolvidas com os softwares como “concordanciadores, extratores de frequência e etiquetadores” (BERBER SARDINHA, 2004), isso porque “o Banco de Português, o Lácio Web, o Tycho-Brahe, de português histórico, a Linguateca” e os vários corpora em português, inclusive o do NILC, de português brasileiro, não possuem corpus da área por nós pretendida. Nesse vetor, destaca-se que o Corpus Brasileiro v. 5.1 (BERBER SARDINHA, 2019), sequer tem indexado os gêneros “direito” e “sentença” – objetos mediatos do presente estudo – e, como consequência lógica, a pesquisa por expressões metafóricas compostas pelos tokens “direito” e “estratégia”. Dr. Tony Berber Sardinha, desenvolveu em parceria com o Dr. Kenneth Ward Church um algoritmo para extração de metáfora conceptual e expressões metafóricas em corpus submetidos por outros pesquisadores através do sítio http:// www4.pucsp.br/pos/lael/corpora/ , da PUC São Paulo. No entanto, o sistema foi descontinuado e ao intentar-se o upload de corpora, retorna a mensagem “2008/12/08: “Infelizmente, devido a problemas além da minha alçada, este serviço está suspenso sem perspectiva de retorno”. O corpus analisado foi eleito a partir de um recorte epistemológico, limitado no tempo e no espaço, às decisões do STF no período compreendido entre 24 de julho de 2018 e 24 de julho de 2019, limitando-se ainda aos campos do direito constitucional, matéria eminentemente afeta ao STF, direito civil e administrativo, esses por sua conexão direta e específica ao direito constitucional. Dessa forma, cabem algumas considerações acerca dos mecanismos e softwares disponíveis para a coleta e manipulação de dados a serem estudados, e as dificuldades encontradas. Ainda nessa esteira de raciocínio, salutar transcrever a seguinte expressão metafórica: …está vinculado ao próprio interesse público em ver assegurada a dessas entidades na de mercado com outros agentes. Ressalta-se a ocorrência de em conexão direta com explicitando a metáfora conceptual da “guerra”, urdida não apenas no discurso jurídico, mas também em referência deste ao mercado. Importante ressaltar que o discurso jurídico tende sempre no sentido de empregar palavras “duras” ou inatingíveis ou incompreensíveis pelos demais falantes, inclusive pelo fato de ser uma “língua de madeira” (GADET; PECHEUX, 2004). Dessa forma, em vez de construções mais neutras e lógicas, como “… OU OU artigos, os princípios...”, o discurso jurídico prefere pérolas beligerantes como: Aponta aos princípios do sistema acusatório, do devido processo legal, e do contraditório. … alegada aos artigos 5º, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal… … alegação de ao princípio da legalidade… No discurso jurídico, as construções ficcionais da lei, do processo e dos princípios são tomados por seres corpóreos, dotados de uma pessoalidade e que são , contra os quais se na , na , no : A ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal de interesses com solução na origem. Incontáveis vezes, os “carpinteiros da sentença” (ANDRÉS IBÁÑEZ, 2007), reproduzem a fala de outros operadores do direito, os assim chamados “doutrinadores”, que urdem textos teóricos destinados ao ensino do direito nas faculdades e à hermenêutica aplicada nos tribunais. Dito isto, é possível pinçar de algumas sentenças estudadas a reprodução de algumas lições desses doutrinadores, que demonstram como essa langue de bois (GRANGEIRO, 2007), verdadeira ideologização da língua portuguesa, atua para subverter o significado das palavras: equivale a , a , e não a . Pode haver e os há sem acusação alguma, em qualquer . (GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução. Forense Universitária, 1996, p. 82-85). Nesse ponto recomenda-se que refaçamos a analogia de Volkoff (1999) que acertadamente relaciona as línguas de madeira com a Novalíngua (Newspeak), da obra de George Orwell 1984 (2009) que traduz os reais objetivos das línguas artificiais como o Direito: “ A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a Novalíngua e esquecida a Velhalíngua, um pensamento herege — isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do Socing — fosse literalmente impensável, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para serem formulados. […] Por outro lado, embora fosse vista como um fim em si mesma, a redução do vocabulário teve alcance muito mais amplo que a mera supressão de palavras hereges: nenhuma palavra que não fosse imprescindível sobreviveu”. A Novalíngua foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento, e a redução a um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. (grifou-se) O objetivo da dureza da língua do Direito não é construir um vocabulário seu, que atenda as exigências de um campo do saber com suas peculiaridades, mas sim moldar o pensamento dos operadores e da sociedade em geral, para que, ainda que por meios indiretos, jamais cheguem à conclusão de que o direito seria totalmente prescindível em uma sociedade pautada pelo respeito total à vida e a liberdade. Já que definimos ser o direito uma “língua de madeira”, nada mais justo que os magistrados sejam chamados de “carpinteiros da sentença”, como reconhece, Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y director de Jueces para la Democracia de España. O Discurso jurídico, verdadeira “Novalíngua”, serve, portanto, para reduzir a capacidade de pensamento e de crítica, criando a ilusão de ordem e normalidade e como afirmou Habermas (2003), conferindo a “aparência de legitimidade ao poder ilegítimo” Nesse mesmo sentido, Gries (2006), Gries e Divjak (2009) e Gries e Otani (2010) evidenciam que a abordagem da metáfora e da metonímia em corpora deve levar em conta o papel dos fatores contextuais para compreensão de seus perfis de polissemia e quase sinonímia. O que fica patente nesse exemplo é que a carga semântica dos types e tokens é mais significativa do que o type em si mesmo e dessa forma, a substituição destes entre si ou por outros types licenciados pela metáfora conceptual, não significa mudança no conteúdo do discurso, que para os iniciados na língua de madeira do Direito manterá o sentido pretendido e mais ainda, vemos que não há alteração significativa nos elementos locucionais, ilocucionais e perlocucionais dos atos da fala. Com efeito, poucos são os magistrados que de fato tecem e urdem a sentença em uma língua acessível a todos os falantes. Visto que, a grande maioria ainda esculpe e entalha em “língua de madeira”, uma sentença adornada com um verniz de erudição que no mais das vezes apenas é compreendida pelos iniciados na seita do direito. Ressaltamos que a maioria das sentenças, acórdãos ou decisões do STF (sete de cada dez), comportam alguma inferência à metáfora conceptual “DIREITO É GUERRA”. Ou seja, o método estatístico utilizado demonstrou de forma inequívoca que, apesar do discurso institucional de que o direito exerce o papel de pacificador dos conflitos, o discurso ter sido e urdido nas sentenças da mais alta corte de justiça do Brasil, ainda se encontra permeado em seu coletivo cognitivo por uma metáfora conceptual antagônica ao referido discurso, Sendo necessário desconstruir o discurso jurídico dominante, permeado por polissemias e anacronismos é essencial para que as estruturas não democráticas do poder judiciário brasileiro possam ao menos dialogar de forma eficiente com a sociedade, convertendo se em medium, baseado não na força das palavras “duras” ou da autoridade mantenedora do status quo e reprodutora das ideologias do sistema, mas sim baseado na razão comunicativa, democrática e participativa
Logo, o veredito do juiz, resolve conflitos ou as negociações a respeito de coisas e de pessoas, ao proclamar soluções que são tidas como verdades. Essa atribuição pertence à classe dos atos de nomeação ou de instituição, que se diferencia, por exemplo, do insulto lançado por um particular, que não tem qualquer eficácia simbólica no campo jurídico (BOURDIEU, 1989). Por essa razão, o magistrado representa por excelência a palavra autorizada, a palavra pública, aquela oficial, enunciada em nome de todos e perante todos. Logo, seus atos são bem sucedidos porque estão à altura de se fazerem reconhecer universalmente, de conseguir que ninguém possa recusar ou ignorar o ponto de vista que ele impõe. Um marco desses estudos, tem-se a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), postulada por Lakoff e Johnson (1980,1999) que traduz as metáforas como integrantes do pensamento, da linguagem e do comportamento cotidiano do ser humano, geradas a partir da experiência do homem com seu corpo e o ambiente físico, bem como, principalmente, com a cultura em que vive, forma de expressão e manifestação da maneira como entendemos determinados conceitos no mundo. Portanto, Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), tais metáforas só são possíveis porque existem metáforas no sistema conceptual humano. Elas não são produzidas de forma arbitrária, uma vez que resultam de experiências corpóreas básicas e, quando se manifestam, isso acontece, em grande parte, de forma natural, automática e inconsciente. Como as metáforas são recorrentes nas diferentes situações de comunicação, elas acabam se tornando convencionais na língua (CARNEIRO; PELOSI; VEREZA; 2016) Nesse sentido, o homem vive por meio de metáforas geradas pela experiência de vida individual, pela emoção e imaginação. Lakoff e Johnson (1980) argumentam que as metáforas “são necessárias para dar sentido ao que acontece em torno de nós”. Assim, os fundamentos da Teoria da Metáfora Conceptual contestam o que vários estudiosos da linguagem tradicionalmente postulam, como a ideia de que toda linguagem convencional é literal ou que todas as definições presentes na gramática de uma língua são literais (Lakoff, 1993). Para Lakoff e Turner (1989), o sistema conceitual do homem emerge de sua experiência com o próprio corpo e o ambiente físico e cultural em que vive. Tais vivências são compartilhadas pelos membros de uma comunidade linguística e elas contém metáforas conceituais sistemáticas, inconscientes e convencionais na língua, a partir das quais várias palavras e expressões idiomáticas dependem para serem compreendidas. Na Teoria da Metáfora Conceptual, as metáforas são identificadas a partir da análise das expressões linguísticas: primeiro, observa-se alguma sistematização nas expressões linguísticas; segundo, identifica-se a metáfora conceptual subjacente a essa sistematização; e, finalmente, busca-se mais expressões linguísticas para confirmar a existência da metáfora (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Em outras palavras, a metáfora representa um papel essencial ao estabelecer ligações entre linguagem científica e mundo, como acontece em O Processo através do discurso jurídico. Desse modo, a metáfora constitui-se em uma expressão de persuasão, para convencer o interlocutor das verdades que defende, através de representações de conceitos e experiências do mundo. Assim, a sistematicidade metafórica permite a compreensão um aspecto de um conceito em termos do outro. Segundo Michael Reddy, citado nos estudos de Lakoff e Johnson (1980), existe a “metáfora de canal” (conduit metaphor) e nosso entendimento sobre linguagem é estruturado da seguinte forma: a) ideias (ou significados) são objetos; b) expressões linguísticas são recipientes; c) comunicação é enviar. Exemplos: Eu lhe dei aquela ideia; Suas razões chegaram até nós; Tente colocar mais ideias em menos palavras. Mas há alguns casos em que o contexto também importante, como em “Por favor, sente-se no lugar do suco de maçã” (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Com relação ao que seria o Direito utilizando as metáforas, o raciocínio seria algo como: “se não se tem o conceito, não se tem uma ideia clara do que o Direito é”. Por exemplo, quando se pretende desenvolver uma teoria da norma, uma teoria das fontes, ou uma teoria do fato jurídico parece fundamental dizer, antes de tudo, o que se entende por Direito no contexto daquele determinado sistema teórico (PARINI, 2014).
Referências. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado. 2ª. ed.. Rio de Janeiro, Graal, 1985. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado: notas para uma investigação. 3ª. ed. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980. ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. ‘Carpintería’ de la sentencia penal (en materia de ‘hechos’). In: En torno a la jurisdicción. Perfecto Andrés Ibáñez, 219-249. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 2007. BARBOSA, Ivânia Luiz Silva de Holanda; SCHLEMPER, Maricélia. Direito é Guerra: Uma análise da metáfora conceptual no discurso do Supremo Tribunal Federal. Revista CESPUC, 2º semestre de 2019. n.35. BERBER SARDINHA, Tony. Acesso a corpos de português: Projecto AC/DC: corpo Corpus Brasileiro. Corpus Brasileiro anotado, versão de 25 de maio de 2019, v. 5.1. Disponível em: https://www.linguateca.pt/acesso/desc_corpus.php?corpus=CBRAS BERBER SARDINHA, Tony. Análise de Metáfora em Corpora. In: Ilha do Desterro, nº 52, p. 167-199, jan./jun. 2007. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/11715 . BERBER SARDINHA, Tony. Lingüística de Corpus: uma entrevista com Tony Berber Sardinha. In: Revista Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL. Vol. 2, n. 3, agosto de 2004. ISSN 1678-8931. Disponível em: http://www.revel.inf.br/files/entrevistas/revel_3_entrevista_ tony_berber_sardinha.pdf BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 13ª ed. Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: http:// stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp CARNEIRO, Monica Fontenelle. Emergência de Metáforas Sistemáticas na Fala de Mulheres Vítimas Diretas de Violência Doméstica: uma análise cognitivo-discursiva. 425 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.FOCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Editora Loyola, 2010. DEBRAY, Régis. O Escriba: a gênese do político. Rio de Janeiro: Retour, 1983. DIGESTO. Transformando dados em inteligência jurídica. 2019. Disponível em: https://www.digesto.com.br . ENFAM. Jurisprudência consolidada. Disponível em: http://corpus927.enfam.jus.br/ . FILLMORE, C. J. Frame Semantics. In: THE LINGUISTIC Society of Korea (Ed.). Linguistics in the morning calm. Seoul: Hanshin, 1982. p. 111-138. GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas? In: GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, S.A., 2016. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1987. GADET, Françoise. & PÊCHEUX, Michel. A língua inatingível. Tradução de Betânia Mariani e Maria Elizabeth Chaves de Mello. Campinas: Pontes, 2004 GRIES, St. Th.; OTANI, N. Behavioral profiles: a corpus-based perspective on synonymy and antonymy. ICAME Journal, v. 34, p. 121-150, 2010. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996 HABERMAS, Jünger. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. HABERMAS, Jünger. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Vol. I. 2. ed., Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. HOEPLI EDITORE.IT Dizionario di La Repubblica. Copyright © Hoepli 2018. Disponível em: https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/litigare.html?refresh_ce . HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v. 3.0. Elaborado pelo Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Portuguesa. Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#0 . KÖVECSES, Zoltán. Methodological issues in conceptual metaphor theory. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/310990180 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 8ª. Edição. São Paulo: Atlas, 2017. LAKOFF, George. The contemporary theory of metaphor. In: ORTONY, Andrew (Ed.) Metaphor and thought. 2. ed. Cambridge: CUP, 1993, pp. 202 –251. LAKOFF, George; TURNER, Mark. More than cool reason: a field to poetic metaphor. Chicago: The University of Chicago Press. 1989. LIMA, Daniele Martins; CARNEIRO, Monica Fontenelle. Poder Simbólico e Metáforas Conceptuais: uma breve análise das relações produzidas no campo jurídico em O Processo de Kafka. Revista de Direito, Arte e Literatura. E-ISSN: 2525-9911. Encontro Virtual. V.8.n.1, p. 47-66. Janeiro/Julho de 2022. MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2001 OAB. Jurisprudência de uma forma mais ágil e eficaz. OABJuris 2018. In: Legal Labs Inteligência Artificial LTDA. Disponível em: https://jurisprudencia.oab.org.br. ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. PARINI, Pedro. A Noção de Direito entre Conceito e Metáfora. 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/283013757_A_Nocao_de_Direito_entre_Conceito_ e_Metafora . PÊCHEAUX, Michel. Delimitações, inversões, deslocamentos. Tradução de José Horta Nunes. In: Cadernos de Estudos Linguísticos, nº 19: 7-24, jul./dez. 1990. Campinas – SP: Universidade Estadual de Campinas, 1990. RECONDO Felipe. Tanques e togas: o STF durante a ditadura. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. SANTOS, Boaventura de Sousa. O Discurso e o Poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris: 1988. SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. In: FARIA, José Eduardo. Direito e justiça – A função social do judiciário. São Paulo: Editora Ática, 1994. STEFANOWITSCH, Anatol. Corpus-based approaches to metaphor and metonymy. In: Corpus-based approaches to metaphor and metonymy. STEFANOWITSCH, Anatol; GRIES, Stefan Th. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2006. VOLKOFF, Vladimir. Petite histoire de la désinformation. Paris: Editions du Rocher, 1999
GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 17/05/2025
Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|