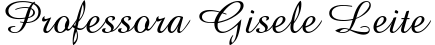Miro na vítima e acerto o algoz.
E o sangue dadaísta tinge o humor de negro. Cores são roupas que trocamos na vida. Miro novamente. Como um snipper. Calculo o vento e a trajetória do projétil. Avalio o ângulo delicado. E alicerçada na aresta, deflagro mais um tiro. Acerto novamente outra vítima. Afinal, ela não pode trair o papel. A dor adormecida parece ser de uma anestesia pretérita. A dor habitual vira uma espécie de ritual masoquista. Traça as dimensões da carne. A estreiteza da respiração curta e fugidia. O diafragma comprimido no peito repleto de emoções jactantes. De expectativas afônicas. Apesar de me livrar do algoz. Depois do combate, a liberdade parece um deserto. A areia movediça faz afundar sentimentos Que morrem acenando em cores apagadiças. Fonemas sufocados. Sílabas interrompidas pela dialética. A semântica nos enreda de todo jeito. Miro na sintaxe. E a métrica me trai com outro. A sedução compulsiva de rimas. Suaves, brandas e musicais. Capazes de fazer esquecer a tragédia diária ou o paradoxo inescapável. A arena com leões e gladiadores. A luta só cessa com a morte. Saímos da arena. Vencedores ou não. Aprendizes ou não. Cada ferida é uma medalha. Cada cicatriz uma comenda. E, toda a experiência adquirida e amassada, quando amalgamada se recolhe em réquiem dentro do esquife. Guardemo-la. Depois vem a lápide. A corrosão do tempo, apagam as datas. Deteriora nomes. E o esquecimento vem, assim como o próximo vento de outono. A lembrança é mera brisa. E seu rosto se desfaz aleatoriamente com o bailar das folhas em inverno. Que crepitam como no baile das paixões. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 15/08/2019
Alterado em 15/08/2019 Copyright © 2019. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras