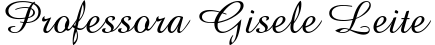Naquela noite de inverno, o vento assobiava fino lá fora e as folhas faziam um barulho de fritura, os vidros das janelas tremiam... e o silêncio despido de semântica, percorria os signos como se fosse oficial passsando em revista da tropa. Pobres mortais encomendados para a guerra, mas orgulhosos em vergar o uniforme, como se houvesse alguma significação em tudo.
As medalhas, as condecorações, as estrelas e cada galhardete empinado parecia esconder a decomposição e as mazelas urgentes. O inverno implacável fazia um frio percorrer os ossos, e mesmo dentro dos sapatos e com meias, os pés gélidos pareciam ficar dormentes... tanto quanto nossa consciência. A mira aflita da arma procurava o alvo. A melhor visão, o rápido dedo no gatilho e, ainda, o inimigo que tinha que ser abatido, sem a menor piedade. Somos humanos quando nos alistamos às hordas guerreiras. Depois, somos apenas máquinas, mecanismos e estratégia. Dizimaremos os inimigos? Seremos vencedores? Seremos vencidos? Então, contaremos a nossa versão do combate. Ditaremos nosso testamento, deixaremos legados, remorsos, esperanças e, principalmente, agonias impressas em placas, homenagens, em cartas aflitas que buscavam afetos no deserto inóspito das paixões. O resto é silêncio. É possível que cientificamente ser vitorioso ou perdedor não faça a menor diferença. A não ser nos adjetivos, nas lápides, nas lembranças populares ou íntimas. Ou simplesmente, nos nomes e datas. No fundo, todos morrem iguais. Falecem, endurecem e, são enterrados mas as sementes da guerra, prosperam, dormem em latência, prestes sempre a germinar novos conflitos. Novas disputas e novos espaços. Para reproduzir sempre, o mesmo velho jogo de poder. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 08/06/2019
Alterado em 08/06/2019 Copyright © 2019. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras