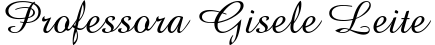Do sagrado para o profano: a assinatura da governabilidade
A evolução conceitual de governo percorreu os pensamentos de Michel Foucault e Giorgio Agamben, os quais visam compreender o poder moderno sob o prisma de uma arqueologia da governabilidade. Também Carl Schmitt aponta que todos os conceitos relevantes da moderna doutrina do Estado seriam conceitos teológicos secularizados. Enfim pela percepção relativamente generalizada na teoria política e social contemporânea bem como as clássicas respostas às aporias modernas (liberalismo de livre mercado, socialismo revolucionário, entre outras coisas) parecem não oferecer atendimento adequado a complexidade dos desafios vividos atualmente pelas sociedades ocidentais e suas periferias principalmente por exigir urgente revisão dos pressupostos ocultos e esquecidos que animam a evolução da moderna salvação. Schmitt embora particularmente interessado nas questões modernas relativas à soberania, aquilo a que poderíamos denominar de o "quem do poder" e suas possíveis raízes teológicas. É preferível as intuições de Foucault e Agambem que destrincham o "como do poder", isto é, na sua efetivação concreta enquanto administração de coisas e pessoas, em uma economia que incorpora o primeiro arcano do poder moderno. Somamos a influência de Michel Senellart, o qual, em seu trabalho "As artes de governar" de 2006 contrariamente a ideia de que a emergência do governo pressupõe a emergia do Estado, defende que foram as práticas de governo já em curso, antes do advento do Estado que permitiram o surgimento da crise da civilização medieval. Agamben em sua obra “Homo Sacer” promoveu investigações profundas resolvendo a dicotomia entre auctoritas e potestas com que o autor compreende a questão do Estado de Exceção rearticulando-se em camadas tanto lógicas como históricas. Na obra " O Reino e a Glória" se refere à secularização dos conceitos teológicos, encarnados em conceitos políticos, onde Agamben registra que a ideia de secularização desempenhou papel estratégico na cultura moderna, sobretudo após Max Weber, através do enfraquecimento religioso da modernidade, propiciando o desencantamento do mundo. A secularização é comumente compreendida como a separação moderna entre a política e a teologia, espaço público e espaço privado, Estado e Igreja, preconizada pelo Iluminismo na defesa do Estado laico e da liberdade religiosa. Agamben admite filiar-se na interpretação contrária herdada de Schmitt cuja estratégia é inversa à de Weber. Enquanto que para Weber, a secularização era um processo crescente de desencantamento e desteologização do mundo, para Schmitt, ao contrário, aponta que a teologia continua presente e atuante no moderno de maneira eminente. Isso não implica necessariamente uma identidade de substância entre teologia e o moderno, nem uma perfeita identidade de significado entre os conceitos teológicos e os conceitos políticos. Trata-se de uma relação estratégica particular, que marca os conceitos políticos, remetendo-os à sua origem teológica (Agamben, 2011, p.16). O que propõe Agamben é menos uma teoria da secularização calcada nos indícios da desteologização do mundo na modernidade, e mais uma teoria que pretende investigar como a própria teologia, ao longo da modernidade, fez-se "secular" no sentido original da palavra, isto é, abandonou o campo meramente religioso para imiscuir-se no mundo, notadamente no político. A ideia de uma teologia política para explicar o moderno, neste contexto de investigação, é bastante pertinente pois, estruturas originalmente teológicas parecem animar o mecanismo básico da política moderna à revelia da sua carapaça de ferro. Salientou Catroga e outros autores Troelstch, Buberm Bonhöfer ressaltaram a influência da própria tradição judaico-cristã como matriz desta acepção do conceito de secularização. Nesta corrente, enfatiza-se o fato de a criação ex nihilo, distinta das cosmogonias míticas e filosóficas clássicas (...) ter processado uma diferença essencial entre Deus e o mundo, mudança que, ironicamente, irá potencializar a dessacralização do cosmos. Agamben compreendeu a secularização não como a dissipação do religioso ou teológico no mundo moderno, mas como uma série de transformações sucessivas das modalidades de sacralização engendradas pelo pensamento ocidental. A história das formas políticas modernas, particularmente o republicanismo, democracia liberal, fascismo e todo o resto é melhor entendida como a série de metamorfoses da sacralização. O Estado moderno, neste sentido, comporta sua própria teodiceia, posto que seja resultado de sucessivas metamorfoses da sacralização e carrega em sua essência a assinatura judaico-cristã. Alguns herdeiros do pensamento weberiano como Peter Berger apontam ser falsa a ideia de que vivemos num mundo plenamente secularizado. Pois acreditam no desencantamento e racionalização progressiva do mundo, o que contrasta com a situação contemporânea situação de acirramento das diferenças religiosas, de fortalecimento do fundamentalismo cristão ou islâmico, para não falar no embaralhamento cada vez mais intenso entre as questões jurídico-estatais e as questões religiosas, como nas querelas sobre o aborto, eutanásia, clonagem humana, obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas públicas, políticas públicas assistencialistas, casamento homoafetivo, entre outras. Em verdade algumas querelas são eminentemente teológicas que vieram da passagem da Antiguidade para a Idade Média e desta para a Idade Moderna. A gramática teológica impregna a lógica e historicidade da investigação. A distinção entre público e privada era a premissa fundamental onde se baseava a axiomática política e social do mundo antigo, fosse grego ou latino. A diferenciação entre tais domínios era tão veemente que havia o perigo de se transformar a polis em um oilos (casa), à qual caberia mais uma o exercício de "economia" do que uma política. Portanto cogitar de economia política seria para Aristóteles um perfeito paradoxo. No mundo clássico, o universo da casa, da economia, funcionava tal qual uma pequena monarquia e o mundo da cidade, da política, como um arranjo entre as diversas potestades. Economia etimologicamente vem do grego oikonomia, isto é, a administração da casa. Mas é claro que no mundo helênico o oikos não é a mesma coisa que a casa moderna e tampouco a unidade de consumo própria da ciência econômica. Era um organismo complexo no qual se entrelaçam as relações heterogêneas, que Aristóteles distinguia em três grupos: relações despóticas ocorrentes entre senhores-escravos, relações paternas, ocorrentes entre pais e filhos e relações gâmicas entre o marido e a mulher. O que une tais relações econômicas é o paradigma que poderíamos definir como gerencial e não epistêmico, ou seja, trata-se de uma atividade que não está vinculada a um sistema de normas nem constitui uma ciência em sentido próprio, mas implica decisões e disposições que enfrentam problemas sempre específicos. Segundo Agamben, o conceito de oikonomia surgiu nos primeiros teólogos do cristianismo a partir de uso estratégico, vinculado às dificuldades levantadas por um contexto da civilização em mutação, no qual o caráter criacionista e histórico da teologia judaica se choca com o naturalismo lógico da filosofia. Uma das novidades judaicas trazidas pelo cristianismo é a ideia de uma liberdade absoluta, incondicionada, por parte da divindade. Também o voluntarismo não é uma ideia estranha ao pensamento helênico. Embora o termo "monarquia" ainda não apareça em Aristóteles nesse contexto, deve-se salientar que já está presente a substância, precisamente naquela duplicidade semântica, segundo a qual, na monarquia divina, o único poder do único princípio último coincide com a potência do único detentor último desse poder. Para Aristóteles, Deus não só existe necessariamente, como também age necessariamente. No contexto teológico do filósofo, o ser de Deus e sua práxis não podem ser pensados separadamente. Eles são coincidentes. Tal concepção faz parte de uma visão mais geral de mundo, bem peculiar do contexto helênico, na qual não é tanto a vontade dos deuses, mas sua própria natureza, impassível e inexorável, portadora de todo bem e do todo mal, inacessível à oração (...) e paupérrima em misericórdia. Já para a matriz judaica, em contrapartida, é inconcebível um Deus que age por necessidade. A criação ex nihilo do mundo, sua radical contigencialidade e dependência de uma vontade criadora incondicionada, vontade esta classificada como libérrima torna impossível e contraditória uma ação divina necessária. A síntese entre estas duas matrizes filosóficas só poderia se dar por uma complexa ginástica conceitual. É através de sucessivas e graduais transladações do teológico para o político, como esta, segundo Agamben, que a economia bipolar da economia divina teria dado origem à consagrada fórmula rex regnat, sed non gubernat: "o rei reina, mas não governa" que expressa paradigmaticamente a distinção moderna entre Estado e governo; ordenação e execução, poder constituinte e poder constituído. Assim a história da política ocidental e suas íntimas dicotomias torna-se a história das transformações e conflitos na relação entre os polos da máquina providencial-governamental, cuja origem conceitual, mais que política, é propriamente teológica. Mas o que implica dizer que o mundo é governo? O que afinal significa governo no mundo? Expressa Agamben que no caso de identidade absoluta entre ordenatio e executio, o governo seria uma atividade nula, que, dada a impressão original da natureza no momento da criação, coincidiria simplesmente com passividade e laissez-faire. Agamben demonstra como a teologia medieval resolveu a contradição implícita ao conceito teológico de "providência" explodindo-o em duas metades, que corresponderiam os dois tipos de ação divina sobre o mundo criado: por um lado, haveria uma providência dita "geral", responsável pelo estabelecimento de leis universais. E, por outro lado, haveria uma providência dita especial, delegada aos anjos e aos mecanismos causais imanentes e secundários. A primeira denomina-se de ordenatio e a segunda, chama-se de executio. Só é possível concatenação através do dispositivo providencial. Sua estrutura aponta para um polo soberano, porém impotente, recolhido ao âmbito da eternidade; e outro polo ativo imiscuído nas contingências da realidade histórica até o mais ínfimo dos insetos. A transposição da doutrina providencial para o campo político pode ser derivada desta passagem do tratado Do Cidadão de Hobbes, que in verbis: "Deve-se distinguir entre o direito e o exercício do poder supremo; eles podem, de fato, ser separados, como quando quem tem o direito não pode ou não quer tomar parte no julgamento dos litígios ou na deliberação dos negócios; Às vezes, os reis, por sua idade, já não conseguem dar conta dos negócios; às vezes, mesmo que o consigam, consideram mais oportuno limitar-se a escolher os ministros e os conselheiros, exercendo o poder através deles. Quando o Direito e o exercício são separados, o governo do Estado é sempre ao governo ordinário do mundo, em que Deus, primeiro motor de todas as coisas, produz efeitos naturais mediante a ordem das causas segundas. Quando, ao contrário, quem tem o direito de reino quer participar de todos os julgamentos, consultas, ações públicas, e da administração, é como se Deus, para além da ordem natural interviesse imediatamente em cada evento.” (Do Cidadão, XIII, 1). A melhor síntese sobre a providência divina é de Tomás de Aquino em sua obra "De Regno: duas obras de Deus no mundo se hão de considerar, em geral: uma pela qual Ele cria o mundo; outra pela qual governa o mundo criado". (De Regno, XIV, 41). Impressionante é a sua defesa da importação deste modelo bipartido para o âmbito secular, na medida em defende explicitamente "que importa, portanto, considerar o que Deus faz no mundo, para se pô, assim, manifesto o que cumpre ao rei fazer". Se o mundo é perfeito e eterno, porque Deus insiste em governá-lo, em "corrigir seu prumo". A assinatura teológica que se encontra é a do pecado e da queda, tema motivador da maior teodiceia judaico-cristã e que, sob sua forma secularizada, também parece permear o mecanismo do governo humano das coisas humanas. Numa síntese provisória Agamben na obra “O Reino e a Glória” escreve: “A providência (o governo) é aquilo através do qual a teologia e a filosofia buscam enfrentar a cisão da ontologia clássica em duas realidades separadas: ser e práxis, bem transcendente e bem imanente, teologia e oikonomia. Apresenta-se como uma máquina capaz de rearticular os dois fragmentos da gubernatio Dei [governo de Deus], no governo divino do mundo. (...) Ela representa (...) a tentativa de conciliar a cisão gnóstica entre um Deus estranho ao mundo e um Deus que governa, que a teologia cristã havia herdado através da articulação “econômica” do Pai e do Filho. Na oikonomia cristã, o deus criador tem diante de si uma natureza corrupta e estranha, que o Deus salvador, a quem foi dado o governo do mundo, deve redimir e salvar, para um reino que, no entanto, não é “deste mundo”. O preço que a superação trinitária da cisão gnóstica entre duas divindades deve pagar é a substancial estranheza do mundo. O governo cristão do mundo, tem, como consequência, a figura paradoxal do governo imanente do mundo que é e deve continuar sendo estranho (Agamben, 2011, p. 157).” Para a teologia cristã, o governo tem caráter eminentemente salvífico. A queda marcada pelo pecado original, instaura a ruptura entre criador e criatura que necessita ser transposta, de modo que a unidade perdida e corrompida seja restaurada. O governo do mundo, portanto, possui caráter temporal e histórico, que se realiza não sob a forma eterna da aplicação automática de uma lei newtoniana imutável, mas em uma ação teleológica que visa à sua redenção. Conforme aponta Critchley: "todas as formas de autoritarismo eclesiástico e governamental exigem uma crença no pecado original. É só porque os seres humanos são defeituosos e imperfeitos que a Igreja e o Estado tornam-se necessários.”. Assim o governo jacobino, na Revolução Francesa, tenha sido denominado de Comitê de Salvação Pública, ou que, para Hobbes, a salvação do povo seja a lei suprema do governo (Salus populi suprema Lex) não parece constituir-se em mera coincidência terminológica. O mesmo se aplica a doutrina marxista-leninista, segundo o qual o Estado revolucionário, sob a forma de ditadura do proletariado, nada mais seria que uma etapa intermediária na obra secular de construção do comunismo, sociedade vindoura essencialmente "sem Estado". Conforme expressou Arendt a filosofia política cristã volta-se para o âmbito extraterreno bastando apenas que se conceba que o próprio mundo está condenado e que toda atividade será nele exercida com a ressalva quamdiu mund durat (enquanto dura o mundo). A ideia de governo, nesta tradição, está sempre vinculada a um plano futuro, glorioso, que os membros da comunidade messiânica experimentem desde já, ao viverem hos me (como se não) em relação ao mundo. Agamben examina com clareza a forma pela qual se dá a atualização da autoridade do Reino, sob forma de um governo, uma economia, auxilia na sacralização do mesmo, dinâmica que o filósofo analisa através do conceito de "Glória". Quanto maior e mais especializada a corte, mais transcendente e inefável é o soberano que lhe serve de centro, de modo que mais divina, e menos humana, é a imagem da sua presença. A função de um encarregado, antes e depois da sua tarefa, não é a mesma, mas ambas remetem ao reino e suas modalidades de sacralização. A relação entre a sacralização e a escatologia governamental encontra seu vínculo na medida em que a mesma hoste angélica que administra o mundo para Deus é aquela que, na consumação dos séculos, louvará eternamente a sua glória, mas de maneira puramente contemplativa e inoperante. Em analogia, o mesmo batalhão que patrulha o território para o poder civil nos dias úteis é aquele que, nos feriados e dias pátrios, desfila na parada militar para tornar conspícuo, visível, o poder e a unidade do Estado como instância legítima da política. Na batalha, a hierarquia militar apresenta-se operante: há, de fato, o cumprimento da função que cabe ao coronel, ao sargento e ao major. No triunfo após a batalha, esta mesma hierarquia perfila-se em sua imagem ideal, perfeita e acabada, jurando à bandeira e entoando em uníssono as estrofes do hino nacional. Na estrutura do Estado moderno, tais soldados cumpre função análoga àquela dos anjos que, mesmo após o cessamento de sua função administrativa, econômica, permanecem ao redor da divindade, entoando cânticos em sua glória. No plano teológico, a distinção entre ordenatio e executio, própria da máquina providencial-governamental, implica na existência, dentro do próprio Estado, de um polo inativo (a ordenatio), separado da mundanidade dos cabinet affairs, mas que concentra em si toda a imagética da soberania originária. Assim se explica porque o aspecto glorioso do poder estatal, consubstancial às suas insígnias, símbolos pátrios, e, ao menos nas monarquias constitucionais, na efígie do rei que reina, mas não governa, comporta uma dimensão inegavelmente sacralizada. O caráter extemporâneo e imutável do Reino, em contraste com a operosidade histórica do Governo, apenas ressalta a natureza eminentemente sacralizada deste primeiro; natureza esta, por sua vez, alimentada e produzida pela própria relação de oposição e complementaridade estabelecida com o segundo termo. Nesta intrincada economia da soberania, o Governo se responsabiliza por imiscuir-se com o mundo dos negócios profanos, por assim dizer, "em nome" do Reino. Se, na modernidade, o Estado ganha o estatuto de sujeito único e exclusivo da política, aquele que o encabeça, o chefe de Estado, será revestido de uma aura sacralizada, a inoperante dignidade da soberania traduzida como regnum: o aspecto glorioso, a dignitas da soberania. Já o chefe do governo que opera em nome do Estado sobre as contingências mundanas, cabe a potestas: a efetivação da oikonomia estatal. Espera-se do chefe de Estado que ele encarne, como modelo moral, toda a dignidade esperada pela investidura do cargo. Em compensação, do chefe do governo e seus burocratas se espera, acima de tudo, eficiência. Já nas repúblicas presidencialistas que hoje constam na maior parte dos regimes no continente americana, as figuras de chefe de governo e chegue de Estado se confundem de modo que, nestes contextos, a articulação da máquina da soberania se torna mais complexa. Percebe-se que o Estado moderno herda ambos os aspectos da máquina teológica do governo do mundo e se apresenta tanto como Estado-providência como Estado destino. Apresenta uma ontologia vicarial dos atos de governo, em que um poder constituído porém relativamente autônomo, às vezes de um outro, transcendente. A política moderna tal como a teologia providencial, articula a soberania nos moldes de uma máquina bipolar, cujos extremos são a ordenatio e a executio, do poder legislativo ou soberano e do poder executivo ou de governo. Às vezes, traja as vestes da providência, e legisla de modo transcendente e universal, e outras vezes se apresenta com as vestes estrábicas e ministeriais do destino, que executa minuciosamente os ditames da providência e sujeita os indivíduos relutantes no vínculo das causas imanentes e dos efeitos que sua própria natureza contribuiu para determinar. É possível pensar que o fundador da cidade esteja mais próximo de um demiurgo platônico que organiza o mundo a partir de uma matéria pré-dada, do que da divindade cristã que instaura um mundo ex nihilo, pois criar, isto é, extrair radicalmente o ser do não ser, afigura-se como algo impossível à agência humana, cuja liberdade é sempre circunstanciada. Como diz Tomás de Aquino, o fundador da cidade ou do reino não pode produzir homens em sentido literal; a existência dos homens e das coisas que governa lhe escapa inexoravelmente. Todavia, sem algum tipo de voluntarismo, não haveria nenhum Estado, nenhuma ordem política. Comparado ao príncipe humano, o soberano divino tem uma espécie de vantagem: ele cria aquilo que governa. É, por essa razão, que para a tradição cristã, Deus governa tudo irresistivelmente, mas com brandura e sem violência (Leibniz apud Agamben, 2011, p.9). Sendo Deus o criador daquilo que governa, os entes não podem lhe escapar ao controle, não podem resistir ao seu imperium. A mensagem do Velho Testamento, neste sentido, é bastante clara. Já aquilo que oferecia resistência, precisaria inevitavelmente ser governado através da coerção, de uma violência. Mas devemos perscrutar o que significa violência. Para Abbagnano em seu dicionário filosófico, define-a como ação contrária à ordem ou à disposição da natureza, o que remete a Aristóteles e sua distinção, na Física, entre um ato natural e outro "por violência". Walter Benjamim diferencia dois tipos de violência ligados ao Estado e ao direito; uma violência que põe o direito (rechtsestzend) e outra que o conserva (rechtserhaltend). Esta é tributária daquela como um parlamento é tributário das forças revolucionárias que permitiram sua instauração. O que a primeira cria, a segunda mantém. Nesta dicotomia, Agamben enxerga a dialética entre poder constituinte e poder constituído, que, por sua vez, nos remete à distinção preconizada por Tomás de Aquino entre uma obra que cria e outra que o conserva. É interessante notar, que no entanto, que Benjamim exclui a divindade destes dois tipos de violência, engendrando um terceiro tipo a violência divina cuja característica é ser rechtsvernichtend, isto é, aniquiladora de direito. Este força manifesta-se em oposição direta ao que Benjamin chama de violência mítica ou Mytische Gewalt cuja característica é subsumir tanto o caráter criador como conservante do direito e da ordem legal. Se a violência mítica é instauradora de direito, a divina é aniquiladora; se aquela coloca limites, estas os aniquilam, se a mítica é simultaneamente culpabilizadora e expiatória, a divina é libertadora; se aquela é ameaçadora, esta é impressionante; se aquela é sangrenta, esta é letal de maneira não sangrenta. Excetuando as nuances diferenciais existentes nas interpretações contemporâneas do texto benjaminiano, é fundamental centrar-se sobre o seguinte ponto: letal sem ser sangrenta, o conceito de violência divina para todos os efeitos, é bem similar à ideia de que Deus governa tudo irresistivelmente, mas com brandura e sem violência. O tipo de violência própria à divindade é uma força irresistível a ponto de constituir-se, paradoxalmente, como não violenta segundo alguns autores. Já a violência vinculada ao ordenamento jurídico, seja ela criadora de direito ou mantenedora dele, é sempre marcada por uma resistência, através da qual se define justamente como violência. É do confronto permanente da violência instaurada com as forças que resistem a ela que se produz espécie de economia interna da violência amalgamando aspectos rechtsetzend e rechthaltend, criador e mantenedor de ordem. O decaimento ou esquecimento da violência criadora de direito conforme opera a violência que a mantém, é um aspecto central da crítica de Benjamim à violência. Assim o dispositivo segue operando, porém alienado de seu propósito, assim também parece funcionar certa violência conservante de direito que se esquece daquilo que deveria conservar. Os parlamentos conformam um exemplo contemporâneo disso. Estes apresentam o seu conhecido, triste espetáculo, porque não permaneceram conscientes das forças revolucionárias às quais devem sua existência (...) Falta-lhes os sentido da violência criadora de direito que neles é representada; não é de se admirar portanto que não cheguem a decisões dignas desta violência, mas observem, no compromisso, uma conduta dos assuntos políticos que se desejaria sem violência. Benjamin muito se aproxima curiosamente da crítica conservadora e decisionista ao Estado Liberal desenvolvida por Carl Schmitt mais ou menos à mesma época. Cabe aduzir uma passagem Critchleu que resume adequadamente a crítica de Carl Schmitt ao Estado Liberal e sua configuração parlamentar, vista pelo jurista alemão como uma espécie de deísmo. O liberalismo parlamentar seria antipolítico porque ele transforma o Estado em um dispositivo técnico que visa diluir o caráter voluntarista da soberania em uma fundamentação coerentista da lei pela própria lei. Quando muito, a decisão originária de onde provém o ordenamento jurídico só se manifesta a posteriori, sob a forma de poder constituinte revisor. Traduzindo a ideia de Schmitt nos termos de Benjamin, é como se a violência conservante, representada pelas instituições mediadoras do Estado de direito, acabassem por neutralizar a violência criadora originária, normalizando-a, naturalizando-a. É como se a violência criadora se rotinizasse e perdesse o seu vigor frente a algo mais duradouro: a violência da conservação, que aparece como não violenta, porque sutil e banalizada. Nicola Mateucci escreveu sobre o verbete "soberania" do Dicionário de Política de Bobbio. Na realidade, com a progressiva judicialização do Estado e com sua correspondente redução a ordenamento, não faz muito sentido falar de soberania, pois nos encontramos sempre diante de poderes constituídos e limitados, enquanto a soberania se caracteriza, na realidade, como poder constituinte, criador do ordenamento. E é justamente desta forma que se manifesta hoje, cada vez mais, porque o poder constituinte é o verdadeiro poder último, supremo e originário. Benjamin e Schmitt coincidem quanto ao fato de que, cedo ou tarde, o esgotamento da violência criadora em sua rotinização poderá conduzir ao rompimento da ordem estabelecida e à irrupção de forças criativas originárias que engendrarão uma nova ordem, por sua vez também fadada ao decaimento e à suplantação. Mas, como já reconhecera Tomás de Aquino no século XIII, não é toda hora que ocorre o disruptivo e o criativo. Bem demonstra Hannah Arendt as tentativas de eternizar o furor revolucionário e tendem a derivar no fanatismo de matriz jacobina ou em conceitos dificilmente aplicáveis na ordem histórica, como o de revolução permanente, de Trotski, ou ininterrupta, de Mao. Através Benjamin, vimos que a manutenção do que foi criado, no plano humano, é essencialmente violenta: ela lida com entes e forças hostis, que a toda hora ameaçam romper a ordem estabelecida. Mas o próprio estabelecimento desta ordem, também vimos, remete-nos a um ato igualmente violento, pois captura homens e coisas para fora de seu decurso natural e os coloca sob a égide de um projeto a ser governado. O que une os momentos de instauração e manutenção do reino humano é o fato de ambos se darem no âmbito de uma extrema violência, por sua vez aparentemente ausente no tipo de ação análoga exercido pela divindade. Em contraste com os mitos modernos de fundação do Estado em geral calcados nas imagens, facilmente relacionados à violência, de revolução, aclamação popular e emancipação, o modo com que Tomás de Aquino descreve a ação criativa do soberano parece contradizer a ideia de que a instauração da ordem jurídica seja violenta. Também as operações técnicas como violentas, pois se imprimem contra materiais previamente disponíveis na natureza e que resistem, bem ou mal, à ação do artesão. Isto é bem diferente de criar entes em sentido forte, ou seja, retirá-los do não ser em direção ao ser, como é o tipo de ação "criadora" de Deus sobre o mundo e aquilo que posteriormente governa. Deus cria governa sem violência porque nada, ao fim e ao cabo, resiste à sua ação. Ainda que na sua economia também sejam identificáveis dois tipos de obra, uma criativa e outra mantenedora, há algo no governo divino do mundo que se destaca do governo humano da cidade, pesem as suas homologias estruturais identificadas por Tomás de Aquino. Em Deus, criar e manter a criação possuem uma consubstancialidade duradoura que suas operações análogas humanas não conseguem reproduzir. Agamben visa se articular a governamentalidade moderna, a fim delimitar a sua abrangência temporal para além dos limites inicialmente explorados por Michel Foucault. Em seus cursos no Collège de France, reunidos em Segurança, Território e População (2008) e o Nascimento da Biopolítica (2008) este autor já identificava a origem das técnicas disciplinares que configuram o poder moderno no pastorado cristão, o chamado governo das almas ou regimen animarum. De acordo com Senellart, que, como Agamben se nutre das instituições de Foucault, é só tardiamente que o regimen adquire significado político. Originalmente, ele pertence ao vocabulário da direção espiritual. GiseleLeite
Enviado por GiseleLeite em 21/11/2015
Copyright © 2015. Todos os direitos reservados. Você não pode copiar, exibir, distribuir, executar, criar obras derivadas nem fazer uso comercial desta obra sem a devida permissão do autor. Comentários
|
Site do Escritor criado por
Recanto das Letras